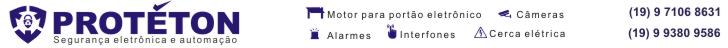adm
| Euclides e o berço de Os Sertões |
|
Usuarios Online: 8
|
08:31:38 , Friday, 09 de May de 2025 , Bom Dia! |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| RIQUEZA E MISÉRIA DO CICLO DA BORRACHA NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: UM OLHAR GEOGRÁFICO ATRAVÉS DE EUCLIDES DA CUNHA | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2011-06-24 14:45:33 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
RIQUEZA E MISÉRIA DO CICLO DA BORRACHA NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: UM OLHAR GEOGRÁFICO ATRAVÉS DE EUCLIDES DA CUNHA
Fadel David Antonio Filho;
Professor Adjunto; IGCE/UNESP/Rio Claro (SP)
RESUMO: A Amazônia brasileira teve um momento de opulência e de decadência, entre o fim do século XIX e a primeira década do século XX, no chamado “Ciclo da Borracha”. Entre 1904 e 1905, o escritor Euclides da Cunha conheceu a região e escreveu sobre ela. O legado de Euclides da Cunha sobre a Amazônia é extraordinário, mas ainda pouco conhecido.
Palavras-Chave: aclimatação, seringais, sociedade torturada, imigrante.
INTRODUÇÃO: UM POUCO DA HISTÓRIA
O produto do extrativismo mais importante, para a Amazônia, sob o ponto de vista econômico, particularmente no período de 1900 a 1940, sem dúvida foi a borracha. Ao longo de décadas o centro das atenções econômicas, principalmente do capital internacional, estava voltado para a seringueira da Amazônia a ‘árvore da fortuna’ que produzia o látex, o leite de seringa com que se fazia a borracha. A tradicional seringueira é a Hevea brasiliensis, a seringueira verdadeira, característica das várzeas altas da margem direita do rio Amazonas.
Outras árvores que produzem o leite (látex) para o fabrico da borracha são: o caucho (Castilloa ulei); a seringueira de terra firme (predominante na margem esquerda do rio Amazonas), a Hevea benthamiana, cujo látex é inferior; a seringueira espontânea das várzeas do baixo e médio Amazonas, a Hevea spruceana, também chamada de seringueira branca (de látex menos abundante); e a balata verdadeira (Mimusops bidentata), encontrada nos altos cursos dos afluentes da margem esquerda do Amazonas. Os índios que conheciam a borracha chamavam-na de “Hevé” ou “Cautchuc”.
É possível que as primeiras notícias, mesmo imprecisas, sobre esse maravilhoso produto, tenham chegado à Europa ainda com Cristóvão Colombo a partir de sua segunda viagem ao Novo Mundo (1493-1495), quando aportou na ilha de Hispaniola (atual Haiti). De acordo com Tocantins (1982, p.91), há também referências de autores europeus como Anghiera (1525), Sahagum (1529), Oviedo (1536) e Torquemada (1615) sobre o uso de ‘bolas’ de borracha pelos nativos do Novo Mundo.
As informações mais detalhadas, entregues à Academia de Ciências de Paris, foram dadas pelo cientista francês Charles Marie de La Condamine, geodésio encarregado da missão de medir o arco meridiano terrestre e que esteve na América do Sul, passando pelo Equador, Peru e Amazônia brasileira, entre 1735 e 1743. O cientista francês relatou o uso da borracha pelos índios do rio Napo e do Amazonas, inclusive o uso pelos portugueses, particularmente de seringas, bombas de borracha que dispensavam o êmbolo.
Apesar de toda a vigilância dos portugueses em não permitirem a saída do produto da seringueira nas mãos de estrangeiros, pequenas amostras chegaram na Europa, de uma forma ou de outra. Exportações clandestinas de borracha datam de 1800 e desde 1770 algumas propriedades do produto tinham sido descobertas.
No entanto, somente em 1808, com a abertura ao comércio internacional, a borracha amazônica alcançou seu lugar no comércio e indústria mundiais. O escocês Mackintosh (1823) aperfeiçoou as descobertas dos franceses e montou a primeira fábrica de impermeáveis de borracha. Em 1839, Goodyear desenvolveu o processo de vulcanização e, em 1888, John Boyd Dunlop descobriu o pneumático. Tais descobertas e inventos tiveram imediatas consequências no mercado da borracha, alcançando desde 1853-1854 ótimas cotações nas bolsas internacionais e atingindo, em 1855, o maior patamar tanto nas exportações do produto quanto nos preços.
Apesar de ocorrerem oscilações dos preços internacionais, como a de 1856-1857, as exportações e os preços da borracha amazônica chegaram ao final do Século XIX em ascensão. Em 1912, a produção gomífera da Amazônia brasileira atingiu o seu máximo ‘pico’ produtivo, decaindo até 1932, quando se exportou em torno de seis mil toneladas do produto, marcando o fim do domínio econômico da borracha na região.
Uma relativa recuperação da produção gomífera na Amazônia só voltaria a ocorrer entre 1934 e 1946, devido aos esforços de guerra (Segunda Guerra Mundial, 1939-1945) e à injeção de capital norte-americano, com o ‘pico’ em 1944 atingindo 21.192 toneladas do produto.
Riqueza e Miséria do Ciclo da Borracha na Amazônia
O processo de ocupação da Amazônia, desencadeado pelo estímulo da borracha, foi, sem dúvida, mais profundo em comparação com o provocado pela coleta de ‘drogas do sertão’.
Diz Tocantins (1982,p.96) que:
A miragem do lucro espetacular dominava psicologicamente as populações, miragem que foi uma constante na história econômica da borracha.
As conseqüências sobre outras atividades econômicas, principalmente sobre a agricultura, foram marcantes. A queda da produção do milho, do feijão e do arroz obrigou à importação desses produtos do estrangeiro, bem como o açúcar, o aguardente e a farinha, das províncias do sul do país.
A economia amazônica, que tinha como base anterior as especiarias extraídas da floresta, desde os fins do Século XVIII entrara em decadência. A desestruturação do sistema de exploração de mão-de-obra, implantado pelos missionários religiosos, criou uma situação de estagnação econômica na região. Alguns produtos do extrativismo, ainda assim, continuaram importantes, como o cacau. A agricultura, por sua vez, recebeu incentivos, principalmente na época pombalina, com a organização das companhias de comércio.
Com o advento da borracha, a economia regional ressentiu-se da escassez de mão-de-obra, mormente se levarmos em conta a dificuldade de se estruturar a produção com base na mão-de-obra indígena local.
As pressões do mercado internacional sobre a produção de borracha amazônica, crescentes nas últimas décadas do Século XIX, forçaram então a busca de soluções a curto prazo. Sobre isso escreve Furtado (1970, p.130-131) que:
A evolução da economia mundial da borracha desdobrou-se assim em duas etapas: durante a primeira encontrou-se uma solução de emergência para o problema da oferta do produto extrativo; a segunda se caracteriza pela produção organizada em bases racionais, permitindo que a oferta adquira a elasticidade requerida pela rápida expansão da procura mundial. A primeira fase da economia da borracha se desenvolve totalmente na região amazônica e está marcada pelas grandes dificuldades que apresenta o meio.
É ainda Furtado (p.131-132) que, ao analisar a problemática da mão-de-obra, nos fins do século XIX explica que aparentemente a imigração estrangeira, que se direcionou para a região cafeeira do Sul-Sudeste do Brasil, deixou disponível o excedente de população nordestina para a expansão da produção da borracha.
É que a Região Nordeste do Brasil, que sentira um intenso crescimento populacional na primeira metade do Século XIX, principalmente devido à diversificação da economia e ao desenvolvimento da cultura algodoeira, tinha no sistema de economia de subsistência uma estrutura da qual se valia a população nos períodos de menor crescimento econômico.
Entretanto, com a elevação dos preços do algodão, devido à Guerra da Secessão Americana, nos anos sessenta, uma etapa de prosperidade no Nordeste, principalmente no Ceará, teve como conseqüência uma paulatina desestruturação da economia de subsistência. O problema começou a ser mais sentido a partir da segunda metade do Século XIX quando, devido ao crescimento vegetativo da população, surgiram os primeiros sintomas de pressão demográfica sobre a terra e que se agravaram de forma dramática por ocasião da grande seca de 1877-1880. A dizimação de quase todo o rebanho nordestino e a mortalidade de cem a duzentas mil pessoas levaram a uma concentração de população nas cidades litorâneas da região, que fugindo do flagelo da seca buscava uma desesperadora saída para a sobrevivência. As políticas governamentais de socorro aos retirantes incluíam o direcionamento da emigração para outras regiões do país, em especial para a Amazônia.
Fonte: BENCHIMOL (1977, p.181
O recrutamento de braços para o trabalho nos seringais da Amazônia foi precedido de ampla propaganda subsidiada pelos próprios governos dos Estados amazônicos. Benchimol (1977, p.182) lembra que a grande imigração de nordestinos para a Amazônia coincidiu, de um lado com a grande seca de 1877, no Nordeste, e de outro com a alta dos preços da borracha nos mercados internacionais. Assim foi em 1877, 1898 e 1900. De acordo com Benchimol (1977, p.181-182.), as estatísticas, apesar de falhas, servem para dar uma rápida idéia da emigração de nordestinos que se dirigiram à Amazônia.
Para efeito de comparação com o número de imigrantes nordestinos que foram para a Amazônia, lembremos que em 1872 realizou-se o primeiro recenseamento no Brasil, resultando um total de 9.930.478 habitantes no país. O censo de 1890 resultou em 14.333.915 habitantes e o de 1900 em 17.438.434 habitantes no país. Furtado (1970, p.131) admite que com este “influxo externo” para a Amazônia, somente no último decênio do século XIX, o número total de imigrantes chegaria a 200 mil. Este autor toma como base de comparação os censos de 1890 e 1900. E, ainda o mesmo autor, considerando que se um idêntico influxo ocorreu no primeiro decênio do século XX, a população deslocada para a região amazônica “não seria inferior a meio milhão de pessoas”.
Benchimol (p.201), por sua vez, considera que na etapa que ele denomina a IBatalha da Borracha, de 1850 a 1915, cerca de 350 mil nordestinos emigraram para a Amazônia e na II Batalha da Borracha, de 1941 a 1945, os imigrantes nordestinos aproximam-se de 150 mil, significando um total de 500 mil pessoas, número este coincidente com o de Furtado (p. 131).
Sobre isso, escreve Benchimol (1977, p.247) que:
Quantos eram, ninguém saberá jamais. Nem o número dos nomes, nem o nome dos números, pois nunca existiram estatísticas de emigração no nordeste, e nem de imigração na Amazônia. As que se encontram foram baseadas nos quadros de pessoas saídas do porto de Fortaleza e de outras cidades do nordeste, e de pessoas entradas em Belém e Manaus. Mesmo assim, as fontes são extremamente contraditórias e, deste modo, o labor censitário dos números perde a grandeza e precisão.(...)
Tanto no primeiro como no segundo ciclo imigrantista, as levas de flagelados e retirantes atropelavam-se nos acampamentos no nordeste, enchiam os porões dos navios e, nos centros de recepção e nas hospedarias de Belém e Manaus, a confusão e a balbúrdia geravam um verdadeiro pandemônio.
Quantos partiram, quantos chegaram, quantos morreram, a crônica não registrou. Contudo, o que existe pode dar uma idéia dessa massa crítica de homens, mulheres e curumins que largaram os seus lares em busca de salvação no exílio amazônico.
Entretanto, a situação do imigrante nordestino, o chamado ‘arigó’[1], ao chegar na Amazônia era, desde o início, desfavorável. Além da necessária adaptação a um meio diverso do que vivera até então, já começava a trabalhar endividado, pois que, em geral, necessitava reembolsar os gastos da viagem, os instrumentos de trabalho e outras despesas que se via obrigado a fazer ao se instalar no seringal. Essas despesas, sempre atreladas às necessidades prementes de sobrevivência, como os suprimentos alimentares, os produtos de uso doméstico ou para o próprio trabalho, perpetuavam sua dívida contraída com o empregador, o patrão e dono do seringal, que monopolizava o comércio e a compra da borracha, arbitrando preços e controlando a vida de todos nos seus domínios[1].
A precária situação econômica obrigava o seringueiro a uma jornada de trabalho cruel e desumana. Percorria as picadas abertas na mata, as chamadas ‘estradas’, desde a madrugada, quando começava a ‘cortar’, isto é, a fazer a incisão no tronco da seringueira para extrair o látex, até o final do dia, quando de volta ao seu tapiri, barraco tosco feito de materiais retirados do meio local, iniciava a ‘defumação’ do leite retirado das dezenas ou centenas de tigelinhas que tinham sido fixadas nos troncos da Hevea, para reter a seiva.
As tarefas impostas ao homem no extrativismo da borracha obrigavam-no à exclusividade do corte. Os roçados de subsistência eram raríssimos e o seringueiro, via de regra, submetia-se a um regime alimentar que mais cedo ou mais tarde o levava a um desequilíbrio orgânico. Tornou-se hábito o consumo de ‘enlatados’[1] adquiridos dos ‘aviadores’, que eram os intermediários entre o patrão e as casas exportadoras, representantes dos grandes grupos econômicos internacionais, nas principais praças de comércio da região. Somavam-se a esse processo, nocivo à saúde, o esforço despendido das longas caminhadas e o depauperante trabalho num meio físico, senão hostil, mas certamente dificultoso.
Convém observar que o meio ambiente amazônico, por si, não pode ser considerado insalubre às populações que demandavam se fixarem naquelas paragens. O sistema sócio-econômico que estruturou a sociedade da borracha, durante decênios, criou condições para o surgimento de doenças epidêmicas e endêmicas, num meio que apresentava um frágil equilíbrio entre seus componentes físicos mais representativos, ou seja, o clima, a floresta e os rios.
A postura determinista alimentou a idéia da insalubridade natural de certas áreas da Amazônia, como nos chamados “rios doentios”, onde a malária e o beribéri se alastravam sobre a população, em geral dispersa na mata ou vivendo ao longo das margens dos afluentes e subafluentes, no trabalho de extração do látex e da produção da borracha.
Estudos de medicina tropical, e em particular sobre o saneamento da Amazônia, como os realizados por Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Afrânio Peixoto, nas primeiras décadas deste século, indicam que o carapanã, mosquito vetor do plasmódio de Laveran, sofreu a infectação a partir da presença do conquistador branco naquela região. O beribéri, por sua vez, encontrou corpos humanos debilitados pela avitaminose, provocada por uma alimentação rica em toxinas das conservas e carente de alimentos frescos e verduras, capazes de compensar a falta de vitaminas e sais minerais.
É sintomático observar que as áreas de colonização e povoamento mais intenso, onde havia o plantio de árvores frutíferas, o cultivo de hortas e o criatório de pequeno ou médio porte, correspondiam aos “rios saudáveis”, onde as doenças epidêmicas ou endêmicas, comuns na região, ali não eram relevantes ou mesmo inexistiam.
A perversidade do sistema implantado pelo capitalismo internacional, através do extrativismo da borracha, impôs ao homem, na Amazônia, uma das mais ignóbeis formas de exploração das condições de trabalho, neste século.
A opulência e o progresso observados nas duas grandes cidades da região, Belém e Manaus, com a reurbanização e modernização dos transportes, a instalação da luz elétrica e da telefonia, a construção de palácios, teatros e outros edifícios públicos, em estilos copiados do neoclássico europeu, levavam à admiração do visitante e ao nítido contraste com a miséria e o abandono do interior amazônico.
Sobre isto, já em 1871, escrevia o Presidente da Província do Pará, Abel Graça, em relatório para a Assembléia Legislativa (apud TOCANTINS, 1982,p.97) que:
A prosperidade da capital não significa de modo algum o progresso da província; pelo contrário, denuncia um verdadeiro contraste, e para conhecê-lo basta sair da capital, penetrar no interior e examinar as condições econômicas das povoações e da população.
A situação de penúria não se alterou mesmo após 1900. Num outro relatório, publicado em 1910, desta vez pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz, ao descrever as condições sanitárias do rio Madeira, enfocou como exemplo a vila de Santo Antônio do Madeira, situada a 1.034 quilômetros da embocadura deste rio com o Amazonas. Originalmente esta vila foi uma missão jesuítica fundada em 1737 e, na passagem daquele ilustre médico pela localidade, registrava uma população de 2000 habitantes, mas chegando a 3000 habitantes por ocasião da descida da safra da borracha, em batelões, quando então esta população flutuante se alojava precariamente em barracas, às margens do rio.
Escreveu Cruz que aquela vila não tinha esgotos, nem água canalizada, nem iluminação. Observou que o lixo e outros dejetos eram atirados diretamente às ruas, se é que se podia chamar ‘ruas’ as vielas esburacadas e enlameadas que cortavam a vila. As “colinas de lixo” jaziam apoiando-se às paredes das habitações e no centro da vila existiam grandes buracos que recebiam as águas das chuvas e das cheias do rio, transformando-se em pântanos, criatórios de mosquitos transmissores da malária e do impaludismo. Notou a ausência de um matadouro na vila, de modo que o gado era abatido em plena via pública, a tiros de carabina e com a agravante de serem abandonadas no local as porções não aproveitadas do animal (cabeça, vísceras, couro, cascas, etc.). O terrível mau cheiro dos restos apodrecidos empesteavam o ar. As doenças como o impaludismo não cessavam de aumentar os óbitos e a mortalidade infantil era tamanha que quase não existiam crianças e as poucas que viviam tinham baixíssima expectativa de vida.
Este patético quadro descrito por Cruz sobre uma vila na Amazônia não raro era repetido em dezenas e centenas de outras vilas, num reflexo pavoroso de um sistema sócio-econômico que, ligado aos interesses do capital internacional e das elites burguesas da região, desdenhava dos mais simples princípios de humanidade, insensível às populações que constituíam a base de toda a estrutura de exploração da borracha.
O imigrante, que fugindo da seca do Nordeste brasileiro se dirigia à Amazônia, ia na maioria das vezes iludido pela fortuna fácil e pelo destemor, próprio do sertanejo, imaginando poder dominar a selva, o rio e o clima com a mesma destreza que domava o gado irritadiço nas vaquejadas. Ao chegar na Amazônia e ao se transformar em seringueiro era o “brabo”, assim denominado o ‘novato’ que se deslumbrava com a terra, com o trabalho e que sentia saudades da família que deixara no Nordeste. Pensava em amealhar um bom dinheiro para voltar logo. Em geral, ia ficando mais um pouco. Se constituía família e com o tempo se adaptava ao meio, virava “manso”. Este, via de regra, não deixava mais a Amazônia. Os poucos que davam sorte de juntar um dinheiro para buscar parentes que ficaram ou simplesmente para irem ‘a passeio’ eram os “paroara”. Desacostumados com a vida no sertão nordestino, depois de anos de trabalho duro nos seringais, e recebidos com despeito pela falsa impressão de estarem ricos, em geral eles voltavam para a Amazônia e para o seringal.
Ao descrever a mão-de-obra trabalhadora nos seringais, Tocantins (1982, p.103) explica que:
Nas próprias especializações funcionais, no seringal, destaca-se a simbiose: além do seringueiro que corta a árvore de seringa, do caucheiro que abate a árvore do caucho e lhe tira o leite, o balateiro que sangra a árvore da balata, existem, ainda, várias pessoas engajadas em tarefas ancilares, em associação íntima com as espécies vegetais e animais. São os mateiros, grupo de homens que penetram na selva para descobrir seringueiras. São os toqueiros, que ajudam os primeiros e abrem a ‘estrada’ na floresta. São os comboieiros, que conduzem os burros de carga para o centro e trazem a borracha para a beira. São os homens de campo, que tratam do pequeno criatório e da limpeza do terreno ao largo do barracão. São os caçadores e mariscadores. Todos figuras integradas no sistema social do seringal.
A sociedade da borracha, na Amazônia, transformou quase totalmente o processo econômico, refletindo assim na vida das populações anteriormente engajadas em outras atividades. Afastou grandes parcelas de trabalhadores que se dedicavam à agricultura e ‘aristocratizou’ a figura do patrão, dono do seringal, que na linguagem posterior a 1920 passou a ser denominado ‘seringalista’.
O seringueiro aviltou-se frente à expansão, estimulada pelo grande capital do latifúndio. Sobre este aspecto, ainda TOCANTINS (1982, p.104) escreve que:
[...] o seringueiro, embora livre fisicamente, constituíra-se num escravo moral do patrão pela dependência econômica, rígida, e às vezes, até mesmo num genuíno escravo, vítima de castigos corporais, tolhido nas liberdades que fundamentam a existência livre.
A expansão do processo mono-extrator do látex da seringueira, depois de atingir o auge nas Ilhas e no Baixo-Amazonas, deslocou-se para a Amazônia Ocidental, alcançando o Acre, transformando-o no novo “Eldorado” da borracha, após 1900.
Não se pode esquecer que o extrativismo da borracha criou as bases da sociedade amazônica, ainda observadas na atualidade. O fortalecimento das cidades de Belém e Manaus, como pólos centralizadores da vida política, social e econômica da região, foi um fato. Através de Belém e Manaus, o capital internacional, em conluio com as elites burguesas regionais, comandava todo o sistema extrativista da borracha, na Amazônia. As grandes safras eram assim direcionadas para aqueles centros que sofreram grandes transformações urbanísticas, principalmente entre os últimos anos do Século XIX e o primeiro decênio do século XX.
As chamadas ‘casas aviadoras’, que funcionavam como verdadeiros bancos de crédito para financiar a produção da borracha, “amarravam” os donos de seringais com o sistema de empréstimo em gêneros e mercadorias, resgatável com a entrega da safra produzida no período. Essas ‘casas aviadoras’, que chegaram a mais de 36, após 1900, estavam ‘presas’ às firmas exportadoras, todas elas representantes das grandes empresas com sede em Nova Iorque, Liverpool, Hamburgo, etc., que monopolizavam o comércio da borracha no mundo. O controle dos preços internacionais do produto era feito a partir dos centros mundiais do capital internacional. As praças européias e norte-americanas chegaram a ficar ligadas através de cabo submarino com Manaus e Belém, para onde as cotações das bolsas do mercado internacional eram prontamente transmitidas e com o total controle das firmas exportadoras, agentes do monopólio e que exerciam o poder de manipular as informações, de acordo com seus interesses.
Entre 1900 e 1940 (para ficarmos apenas no período de tempo em que enfocaremos nossos maiores interesses), o capital estrangeiro controlava na Amazônia brasileira uma enorme gama de atividades. Por exemplo, os ingleses, através da Companhia Manaus Harbour, controlavam o porto de Manaus; em Belém controlavam o sistema de transporte coletivo, luz e gás com a Pará Electric e ainda a estrada de ferro de Bragança.
Os franceses, desde 1906, tornaram-se credores do Estado do Amazonas, através da Societé Marsellaise de Crédit Industrielle et Commerciale, e controlavam os impostos da borracha, os bondes e as rendas sobre a energia elétrica de Manaus através dos banqueiros parisienses (Mayer Fréres e Comp.). Os norte-americanos eram proprietários de 300.000 hectares de terras no Amazonas e mais 1.500.000 hectares no Pará, na região do rio Tapajós (Henry Ford). Além disso, controlavam o porto de Belém com a Companhia Port of Pará. Monopolizavam a compra da borracha, madeira e parte da produção de castanha (60%) do Pará, assim como também eram proprietários de plantações de cana-de-açúcar e da produção da cachaça, neste Estado.
A navegação fluvial e a navegação marítima na Amazônia estavam, até 1940, nas mãos estrangeiras. Os ingleses controlavam a Amazon Steam Navigation, posteriormente Amazon River Steam Navigation Company (1911), que mais tarde foi estatizada, transformando-se em autarquia federal, em 1940, a SNAPP (Serviço de Navegação da Amazônia e Administração do Porto do Pará), atual ENASA (Empresa de Navegação da Amazônia S.A.).
O cosmopolitismo de Belém e Manaus podia ser medido pelos elogios de ilustres personagens que estiveram na região, de passagem, fossem nacionais ou estrangeiros. A intensa ligação com a Europa trouxera os hábitos de “finesse”, o gosto apurado, a predileção pela moda e pelos autores franceses. As casas comerciais ostentavam nomes sugestivos como “Bon Marché”, “Au Palais Royal”, “Bazar Paris”, “La Corbeille”, etc. No primeiro decênio do século XX,, era comum Companhias de óperas italianas se apresentarem em Belém e Manaus. Espetáculos no estilo “vaudeville” eram apresentados por Companhias de danças espanholas, italianas e portuguesas, numa reedição do “Moulin Rouge” nos trópicos.
A vida literária e intelectual da região podia ser medida pelo número de jornais que se editavam em Manaus (seis) e Belém (seis) nesta época, após 1900. Grande era o número de escritores, jornalistas e poetas que agitavam a vida boêmia e literária nestas duas capitais.
Comum era a freqüência com que as pessoas viajavam para a Europa, fossem elas abastados donos de seringais ou jovens intelectuais, filhos da burguesia, que se dirigiam principalmente à França. Como explica TOCANTINS (1982, p 126):
Centenas de paraenses e amazonenses, (...), atravessavam o Atlântico, uns para estudar, outros em busca de saúde nas estações termais, outros pelo prazer de viajar, de enriquecer a alma de sensações e conhecimentos. A Europa representava, naquele tempo, o que hoje significa o Rio de Janeiro para as populações regionais. Aliás, quase ninguém conhecia a capital do país, de onde só se irradiava uma influência nitidamente oficial, do interesse de Governo a Governo.
Esta colossal contradição oferecida pelo quadro econômico e social da Amazônia, principalmente entre 1900 e 1940, apresentando as cidades de Belém e Manaus como ‘vitrines’ do progresso e das benesses do capitalismo moderno, e a hinterlândia amazônica como a periferia explorada e miserável com relações de trabalho pré-capitalistas, reproduzia na escala regional o processo de ação do capital internacional.
A produção máxima da borracha amazônica foi atingida em 1912. A partir daquele ano a concorrência da borracha asiática começou a se fazer sentir no mercado mundial. As “rubber plantations” instaladas na Malásia, Índias Holandesas, Ceilão, Indochina, Bornéu, Burma e Índia, passaram a ser cultivadas a partir da década de 70 do Século XIX, quando foram contrabandeadas mudas da planta para o Jardim Botânico de Kew, em Londres, por Henry Alexander Wickham.
Os anos seguintes a 1913 foram de sucessivos desastres. A borracha asiática, mais barata, suplantava sobejamente a borracha amazônica, mais cara. Os anos de 1929-1933 marcam o apogeu da crise com profundos reflexos na vida econômica e social da região. Os incentivos estrangeiros, retirados rapidamente da Amazônia, só voltaram à borracha no período da Segunda Guerra Mundial, desta vez com exclusividade de capitais norte-americanos, devido ao esforço de guerra e na tentativa de contrapor-se aos grupos europeus que controlavam o mercado mundial da goma. Contudo, a euforia do extrativismo da borracha não retornaria à Amazônia. A depressão econômica, motivada pela quebra da hegemonia e do monopólio de produção do produto pela Amazônia, só não foi um completo desastre para as populações envolvidas diretamente com o extrativismo devido aos esforços de se buscar outros produtos da floresta, como a castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa), por exemplo, que se não foi um substituto à altura da borracha, ao menos diminuiu o impacto depressivo daquela.
A surpresa inicial do impacto econômico, motivada pela concorrência e pelos preços, evidentemente manipulados pelo International Rubber Regulation Committee, deu lugar às falências das casas aviadoras e em sequência ao abandono de seringais e ao desemprego. O pessimismo e o declínio da vida social nas camadas burguesas de Belém e Manaus, no período após 1913, se estenderiam após 1940. A Amazônia havia deixado de ser o ‘Eldorado’ do arigó e voltava ao ostracismo dos espaços periféricos abandonados pelo capital internacional, depois deste ter usufruído ao máximo dos recursos naturais e dos recursos humanos que ali estavam para servi-lo.
A VISÃO DE EUCLIDES DA CUNHA SOBRE OS SERINGAIS
Euclides da Cunha esteve na Amazônia entre dezembro de 1904 e dezembro de 1905. Isto significa que a experiência do escritor com a região foi de pelo menos um ano, muito mais do que teve com o sertão baiano. E sua vivência na Amazônia não foi de um turista ou mero visitante, mas de um pesquisador e um observador que viveu o dia a dia das populações não só nas capitais, mas principalmente nas do interior, viajando pelos rios e atingindo os rincões mais distantes daquelas paragens. Escreveu muita coisa sobre a região, publicadas, principalmente, em jornais de Manaus e do Rio de Janeiro, que foram mais tarde reunidos em Contrastes e Confrontos e À Margem da História. Mas existem alguns escritos dispersos, como o artigo “ENTRE OS SERINGAIS”(CUNHA, 1966, v.1, 508-511), originalmente publicado na revista Kosmos, ano III, nº 1, Rio de Janeiro, 1906.
Neste artigo, Euclides da Cunha (p. 509), descreve a organização dos seringais do Purus e as deploráveis relações de trabalho a que estão submetidos os seringueiros. Descreve o processo de ‘implantação’ de um seringal através de homens, cujos trabalhos ‘especializados’ são requisitados pelo dono do seringal. São eles: o mateiro, o piqueiro e o toqueiro, contratados para avaliar o sítio, abrir as ‘estradas’ e ‘marcar’ as ‘madeiras’ (as seringueiras). Em seqüência, relata a dura realidade do cotidiano do seringueiro, na sua “faina desgastante, prisioneira e sem perspectiva”. Este imigrante nordestino, explica Cunha (p. 510), é um solitário que vive naqueles “desolamentos de desertos”, numa sociedade onde “um dos mais funestos atributos” é “o da dispersão obrigatória”.
Nota-se, neste trabalho, a clara intenção de denúncia do escritor, que ao entrar em contato íntimo com a região conheceu a bárbara exploração do latifúndio gomífero sobre o homem.
A visão do engenheiro foca com precisão o que ele chamou de “uma original medida agrária”, a “estrada”, e a unidade não métrica que corresponde à seringueira. Desta forma, uma ‘estrada’ é constituída por cem árvores (seringueiras), espalhadas ao acaso, ao longo de um espaçoso trecho da selva (p.509)..
E, um seringal médio, como tantos que existem na bacia do rio Purus, chega a ter 300 ‘estradas’, num espaço de 20 léguas quadradas, exigindo cerca de 150 homens para explorá-lo. Euclides da Cunha discorre da imperiosa necessidade do dono de um seringal em demarcá-lo, para então poder iniciar sua exploração efetiva, sem o que sua empreitada tornar-se-á inútil (p.510).
Para tanto, o primeiro intento é fazer o traçado do seringal, depois de erguido o barracão, sempre a beira do rio principal. O concurso de um sertanista contratado para tal empresa é fundamental. É o mateiro que “lança-se sem bússola no dédalo das galhadas, com segurança de um instinto topográfico surpreendente e raro” (p. 509).
A descrição das características fisiográficas do seringal, espelha o olhar de um genuíno geógrafo, levando o leitor a percorrer, junto com o mateiro, aquelas paragens amazônicas. Atravessa os igapós (alagados) e os “firmes sobranceiros às enchentes”, isto é, as terras altas nunca alcançadas pelas cheias dos rios. Acompanhamos o sertanista a traçar os ‘varadores’ que serão percorridos pelo seringueiro imigrante e a avaliação rigorosa das ‘estradas’ (p.509).
Tudo isso sem a necessidade de registrar e “traduzir complicadas cadernetas”, usadas comumente pelos agrimensores e topógrafos de profissão. A vivência do mateiro lhe dá toda a segurança de escolher os locais certos, à beira dos igarapés, para erigir as barracas dos trabalhadores.
A visão do geógrafo e do engenheiro é refinada pela sensibilidade do literato e Euclides da Cunha trás ao leitor a presença de figuras muitíssimos peculiares na sociedade da borracha, em especial na preparação de um sítio, em plena selva amazônica, rico em Hevea brasiliensis, a seringueira verdadeira das várzeas altas da margem direita do Rio Amazonas. São eles, além do mateiro, o toqueiro e o piqueiro, esses últimos, “dois auxiliares” indispensáveis do mateiro na demarcação e preparação de um seringal.
Magistralmente, Euclides descreve todo o trabalho desses caboclos amazônicos com a familiaridade de um verdadeiro amazônida. O conhecimento da flora e do modo de vida do caboclo são expressos ao descrever a feitura de um tapiri (que ele chama de “papiri”, forma alternativa e mais antiga para designar os toscos e provisórios abrigos construídos na mata), cobertos pelas longas palmas da jarina (palmeira nativa da Amazônia).
Enquanto o mateiro vai assinalando as seringueiras a partir da “boca daestrada”, isto é, o início do caminho demarcado na mata, é seguido pelo toqueiro e pelo piqueiro. O primeiro vai ‘marcando’ os pés de seringa, o segundo vai abrindo a facão a estrada, que deve ficar “em pique”, isto é, aberta para futuro uso do trabalhador que ali vai labutar, o nordestino imigrante, o ‘brabo’ recém-chegado, o seringueiro.
Todo o processo de demarcação é descrito passo a passo, levando o leitor a caminhar pela selva, através da ‘estrada’, picada feita ao longo da mata, de trajeto sinuoso e irregular, de seringueira em seringueira, sentindo a sensação de ali presenciar o dia a dia daqueles trabalhadores desafortunados.
Na visão determinista de Euclides da Cunha, a fatalidade dos processos econômico e social do seringal pode ser consubstanciada na configuração física do próprio seringal. Utiliza para isso a imagem figurada de um imenso polvo com seus tentáculos que tudo envolvem, delineando a sorte inapelável daqueles que tiveram a desventura de ali entrar. Sobre o assunto escreve CUNHA (p.510):
É a imagem monstruosa e expressiva da sociedade torturada que moureja naquelas paragens. O cearense aventuroso ali chega numa desapoderada ansiedade de fortuna; e depois de uma breve aprendizagem em que passa de brabo a manso, consoante a gíria dos seringais (o que significa o passar das miragens que o estonteavam para a apatia de um vencido ante a realidade inexorável) –ergue a cabana de paxiúna à ourela mal destocada de um igarapé pinturesco, ou mais para o centro numa clareira que a mata ameaçadora constringe, e longe do barracão senhoril, onde o seringueiro opulento estadeia o parasitismo farto, pressente que nunca mais se livrará da estrada que o enlaça, e que ele vai pisar durante a vida inteira, indo e vindo, a girar estonteadamente no monstruoso círculo vicioso da sua faina fatigante e estéril.
A pieuvre assombradora tem, como a sua miniatura pelágica, uma boca insaciável servida de numerosas voltas constritoras; e só larga quando, extintas todas as ilusões, esfolhadas uma a uma todas as esperanças, queda-se-lhe um dia, inerte, num daqueles tentáculos, o corpo repugnante de um esmaleitado, caindo no absoluto abandono.
Assim, em contato direto com os acontecimentos, tal como ocorreu em Canudos de Antônio Conselheiro, no Alto Sertão Baiano, Euclides da Cunha muitas vezes avança sobre sua ideologia e consegue entender e explicar a realidade que descreve, despida dos preconceitos darwinistas sociais e deterministas. Ao nosso ver, este artigo expressa um desses ‘relances’, quando o autor assume uma postura relacionada à visão do socialismo utópico, consonante com a dos positivistas românticos.
Euclides da Cunha ao escrever “ENTRE OS SERINGAIS”, já possuía grande vivência na região amazônica. O pequeno artigo, porém magistralmente rico em detalhes e em imagens, mostra a visão crítica do escritor sobre uma das mais cruéis formas de exploração do homem, na sociedade moderna.
O seringal, unidade sócio-econômica fundamental da sociedade da borracha, expressa uma das mais sórdidas relações entre capital-trabalho, na exploração da miséria humana que contribuiu para a opulência de uns poucos e a penetração do Capitalismo Internacional numa da regiões mais periféricas de um país periférico, o Brasil.
Na importância dada ao homem, mas ao homem despossuído, o imigrante nordestino que fugindo da calamidade da seca é levado a viver nas brenhas mais profundas da imensa floresta higrófila da Amazônia brasileira, Euclides da Cunha avança sobre seu ideário positivista. Ele nos surpreende e mostra sua genialidade frente ao seu tempo histórico.
Usando metáforas que conduzem a percepção do leitor a ‘ver’ a paisagem ali descrita e a ‘sentir’ a dramática situação daquela gente, Euclides da Cunha lembra que a sociedade da borracha apresenta “um dos mais funestos atributos, o da dispersão obrigatória”. Ali o homem é um solitário, amarrado a uma faina dispersiva, atrelada a outras anomalias, contribui para criar uma sociedade estagnada, “sem destino, sem tradições e sem esperança”.(p. 510).
E ao compararmos este precioso escrito com outros trabalhos sobre o mesmo tema, como por exemplo o de Plácido de Castro, o gaúcho aventureiro, libertador do Acre, que acusou Euclides da Cunha de plágio, torna-se difícil mesmo fazer comparações. A superioridade literária, a beleza da descrição de um assunto triste e árido, torna o artigo “ENTRE OS SERINGAIS” uma pequena obra prima que expressa a verdadeira face da chamada sociedade da borracha. Euclides aí supera-se. E se foi um plágio (que duvido), convenhamos, bendito plágio.
CONCLUSÕES FINAIS
Euclides da Cunha deixou inúmeros escritos sobre a Amazônia. Muitos desses escritos foram publicados em forma de livros: Contrastes e Confrontos (1907), À Margem da História (1909), Peru versus Bolívia (1907), e inúmeros artigos em jornais e revistas que nos dão a dimensão do seu interesse pela região.
A experiência como correspondente de guerra, pelo jornal O Estado de S. Paulo, nos sertões de Canudos, foi de pouco mais de 20 dias no teatro de operações, enquanto na Amazônia, sua vivência foi de praticamente um ano.
As primeiras impressões de Euclides da Cunha sobre a Amazônia não foram animadoras. Com o passar do tempo, aquele “espaço de Milton” que “esconde-se em si mesmo”, impregnou-lhe o espírito, a observação primorosa e a pena magistral. A Amazônia tornou-se lhe íntima e a partir daí produziu uma lavra de escritos, entre artigos, cartas, relatórios, insuperáveis. Era o prelúdio de um segundo ‘livro vingador’ (o primeiro foi Os Sertões), do qual já tinha até um título: Um Paraíso Perdido.
Seria sem dúvida, um livro extraordinário, se nos basearmos no que Euclides da Cunha já havia até então produzido sobre a Amazônia. Sua trágica e precoce morte impediu a concretização deste sonho. A perda maior foi nossa, foi do Brasil.
Em compensação, o legado de Euclides da Cunha sobre a Amazônia, ainda assim, é riquíssimo. Se o gênio euclidiano criou Os Sertões, uma obra prima de nossas letras, e para tanto vivenciou o espaço semi-árido do sertão baiano por pouco tempo, imaginemos o que seria Um Paraíso Perdido.
REFERÊNCIAS:
ANTONIO FILHO, Fadel David. A Visão da Amazônia Brasileira: uma avaliação do Pensamento Geográfico entre 1900-1940. Rio Claro: IGCE/UNESP (tese de doutorado), 1995;
ANTONIO FILHO, Fadel David. O Pensamento Geográfico de Euclides da Cunha: uma avaliação. Rio Claro: IGCE/UNESP (dissertação de mestrado), 1990;
BENCHIMOL, Samuel Amazônia: um pouco – antes e além – depois. Manaus, Ed. Umberto Calderaro, 1977;
CUNHA, Euclides da Obra Completa. Rio de Janeiro: Companhia José Aguilar Editora, 1966 (2 volumes);
FURTADO, Celso Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1970;
TOCANTINS, Leandro Amazônia – Natureza, Homens e Tempo. 2ª edição (ver. e ampl.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982 (Coleção Retratos do Brasil, volume 165).
|
||||||||||||||||||||||||||
| Fadel David Antonio Filho; | << Próximo || Anterior >>
Apoio |
||||