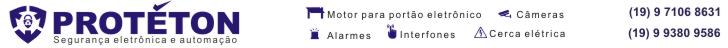| Euclides e o berço de Os Sertões |
|
Usuarios Online: 10
|
09:09:27 , Friday, 09 de May de 2025 , Bom Dia! |
|
|
| EUCLIDES NA RUA DO OUVIDOR: O RIO E OS (PRÉ-) MODERNISMOS |
|
|
| 2003-08-01 17:16:12 |
|
|
|
Prof.ª Ms. Anabelle Loivos Considera. (Faculdade de Filosofia Santa Dorotéia – Nova Friburgo/RJ; Universidade Salgado de Oliveira – São Gonçalo/RJ; Universidade Federal Fluminense – Niterói/RJ.)
Ementa: Trata-se de uma proposta de literatura comparada, em que pesem as aproximações e os afastamentos entre Euclides e todos os intelectuais cariocas e fluminenses que contribuíam para a viragem cultural (pré-) modernista, em finais de século XIX e início do século XX. Vamos dar um passeio pela Ouvidor de Machado de Assis e pelos becos da Lapa de Lima Barreto, para então tentar situar Euclides neste rescaldo intelectual carioca, que foi responsável direto pelas manifestações que mais tarde se fariam na Semana da Arte Moderna paulistana.
A Rua do Ouvidor – turunas e quixotes pelas “quebradas”[1] cariocas.
O primeiro nome da Rua do Ouvidor foi “Rua do Aleixo Manuel”, em homenagem ao primeiro magistrado da Capitania, que lá residiu (conforme depoimento de José de Alencar). A partir de meados do século XVIII, começaram a vir de Portugal os primeiros “Ouvidores”, que se estabeleceriam, por conta da Câmara, exatamente “pelas bandas do Aleixo Manuel”, fazendo esquina com a Rua Direita (hoje, 1.º de Março) e com a Rua da Quitanda, no trecho em que era jocosamente chamada de Rua do Sucussarará[2]... O nome “Rua do Ouvidor” começa, então, a se impor e se perpetuar, mesmo que a administração local ainda tenha insistido, de 1897 a 1916, que a rua se chamasse “Coronel Moreira César”, morto como comandante do Exército Brasileiro na 3.ª expedição contra Antônio Conselheiro e seu séqüito, em Canudos.[3] Com a vinda da família real para o Brasil, a Rua do Ouvidor se transformou numa espécie de “centro mercantil” e cultural da cidade. Com a “abertura dos portos às nações amigas”, ingleses e franceses, mais do que outros estrangeiros, estabeleceram-se na Ouvidor, como atacadistas ou importadores, especializando-se em cambraias, sedas, chapelaria, barretes para os eclesiásticos, perfumes, objetos de fantasia e de moda para as senhoras, jóias, alfaias de luxo e livros. Além dos comerciantes, a Rua do Ouvidor passou a abrigar modistas (“maisons” ou, numa linguagem atualizada, “grifes” famosas da época), cabeleireiros, doceiros, sorveteiros, exibindo seus produtos em armações de jacarandá, que seriam as precursoras tanto das vitrines modernas quanto das práticas “banquinhas” dos camelôs – que ainda continuam presentes no cenário do centro do Rio, até hoje, e da própria Ouvidor... E foi assim que, de uma precária viela, com os lentíssimos carros de boi a percorrer o calçamento desigual e feito em alvenaria, com seus freqüentes empoçamentos e sua paupérrima iluminação a azeite de peixe, a Rua do Ouvidor passou a oferecer certas “comodidades” aos novos freqüentadores – a realeza e seus abonados acompanhantes... Calçamento melhorado, trânsito restrito a determinadas horas do dia, para os carros de boi, substituição dos lampiões de azeite por bicos de gás, pelo Barão de Mauá, em 1854[4], paralelepípedos (quando na Europa já se usava o asfalto...), a partir de 1857, e vitrines, cada vez mais vitrines, algumas que só o Imperador podia visitar, já que tinha o costume de distribuir o generoso quinhão real a quase todas elas... Talvez, daí, a memória popular ter identificado, à época, todos os franceses a cabeleireiros “afetados” e todas as francesas a prostitutas. A primeira identificação da Rua do Ouvidor com a intelectualidade carioca acontece quando da fundação do Jornal do Commercio, pelo tipógrafo francês Pierre Plancher, em 1827. Outros jornais viriam a se instalar por lá, como o A Nação, do então jovem deputado conservador Barão do Rio Branco; o Diário de Notícias, do republicanista Rui Barbosa; O País, de Quintino Bocaiúva, numa linha editorial de incitar o Exército nacional contra os ministérios civis da Monarquia (o que contribuiria para a deposição de Pedro II); ou a Gazeta de Notícias, idealizada por Joaquim Nabuco e depois gerenciada pelo grupo de Olavo Bilac e João do Rio, que deram ao jornal um cunho de “crônica social” (misturando, por exemplo, seções de análise da conjuntura política com “concursos de elegância e beleza masculina do Brasil”...). Houve outros periódicos e revistas cujo planejamento e concepção também estiveram ligados à Rua do Ouvidor e aos grupos intelectuais que por ela circulavam: a Folha Popular, com Emiliano Perneta; A Notícia Cor-de-Rosa, com Oliveira Rocha; a Semana Esportiva, da viúva Batler e Filhos; a Revista da Semana, com Álvaro de Teffé (revista de crônica e fotografia policial, logo depois comprada pelo Jornal do Brasil); O Malho, com Kalixto como seu primeiro caricaturista); ou o semanário Rua do Ouvidor, pioneiro dos concursos de beleza feminina. Acrescente-se à lista outras revistas de atualidades e vespertinos já desaparecidos: Correio da Manhã, A Imprensa, A República, A Ordem, Rio-Jornal, A Batalha, A Esquerda e outros títulos que nos dão conta da variedade de pensamentos e de discursos que a nossa Rua do Ouvidor viu nascer e se esfacelarem, ao sabor dos ventos culturais e das tempestades políticas no Brasil da belle-époque. É na Ouvidor que surgem os primeiros “cafés” do Rio, lojas de chá, biscoitos e outras iguarias “quentes e geladas”, onde se reuniam pequenos grupos, por afinidades específicas: mademoiselles, políticos, boêmios, literatos, empresários, capitalistas, altos funcionários, jornalistas e toda a sorte de intelectuais. Foram estes grupos e cafés que começaram a conformar a identidade do modernismo carioca, na origem marcado pela pluralidade de tendências e motivações. Eis que, na Loja Passos, café mais saboroso do Rio, segundo os seus freqüentadores de então, reúniam-se turunas e quixotes[5], como Sales Torres Homem e o Barão de Mauá (este, amigo pessoal de Pedro II, e aquele crítico feroz do Imperador, mas que acabaria mais tarde incorporado ao quadro do poder monárquico, como Ministro...), além do Visconde de Abaeté, um dos mais famosos boateiros do Rio antigo... Havia, ainda, os sorvetes da Deroche e as empadinhas da Confeitaria Castelões, em que não raro se via Carlos Gomes, queixando-se do pouco caso do Brasil com seus músicos, e sonhando vender suas partituras à Itália... Na Confeitaria Paschoal reunia-se o QG literário de Olavo Bilac (depois transferido para a Colombo, na Rua Gonçalves Dias), composto pelo Príncipe dos Poetas e outros jovens escritores, sempre em rusgas com o grupo dos “antigos” fundadores do “Club Rabelais”, que preferiam se reunir na Cailtau – onde se tomava chope alemão de tonel. Comia-se “pratos honestos”, a 600 réis apenas, no Grande Restaurante Chinês, ou no Café Cascata – que ficava num prédio em cujo andar superior teve escritório o Senador e General Francisco Glicério, um dos chefes do Partido Republicano Federal e mentor da resistência aos remanescentes do florianismo ao governo de Prudente de Moraes. Havia, ainda, a Cabaça Grande e o Minho, onde o Barão do Rio Branco saboreava vetustas peixadas. Na esquina da Ouvidor com a Gonçalves Dias, ficava o Café Papagaio, predileto dos “turunas” ligados a Lima Barreto. Lá se ouviam com freqüência as composições de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, além de o lugar funcionar, no carnaval, como “refúgio de Momo” – uma espécie de rancho ou bloco carnavalesco. Conta-se que o nome do café foi dado em reverência a um papagaio chamado Bocage, que era considerado uma mascote do grupo, uma vez que dizia de cor os palavrões mais impublicáveis e os versinhos mais pornográficos que lhe ditavam os boêmios, tendo logo se transformando em atração da casa – e em caso de polícia: a ave foi apreendida, “em nome da moral e dos bons costumes”... Os melhores charutos cubanos eram vendidos na Loja do Bernardo, entre cujos fregueses se destacava o Duque de Caxias. O Hotel Europa servia de rendez-vous aos barões do café do interior, assim como outras pequenas pensões nas imediações, onde o idioma oficial era o francês... Muitos nobres fazendeiros acabaram por “constituir residência” nos hotéis da capital, para melhor gerenciar suas posses e experimentar a hospitalidade franco-carioca. O primeiro elevador do Brasil foi instalado numa famosa joalheria, na Rua do Ouvidor, a Mappin & Webb: de procedência inglesa, o elevador, além de muito lento e com engrenagens complicadíssimas, possuía alavancas em formato de braços, para que seus cabineiros pudessem movimentá-lo no caso de pane. Uma frustrada tentativa de assalto a uma outra joalheria na Ouvidor também entraria para os anais do anedotário carioca: os ladrões cavaram um túnel que daria exatamente embaixo do assoalho da loja dos irmãos Domingos e César Farani; mas desistiram da empresa ao ouvirem ruídos “estranhos”, que vinham da joalheria – talvez um dos famosos “serões noturnos”, patrocinados pelos irmãos solteirões, para os quais eram convidados somente artistas estrangeiros de teatro e destacados homens das letras brasileiros, entre eles os que brilhavam na política e no jornalismo. O dono do primeiro automóvel do Rio também deu umas “voltinhas” pelas imediações da Ouvidor. José do Patrocínio trouxera de Paris um Peugeot, com o qual atravessou a Rua 1.º de Março, causando comoção nos transeuntes. Mal sabia ele que, dias depois, seu amigo Bilac, tão pouco íntimo do traquejo com o volante quanto ele, acabaria protagonizando o primeiro acidente automobilístico do país, como nos conta Ruy Castro: (...) Patrocínio afastara-se da Rua do Ouvidor e só às vezes zanzava pelos cafés com seu jeito gingado de andar, tomando uns copos. Não se sabia como, havia alguns meses, no Natal de 1902, dera um pulo até Paris. Na volta, trouxera um carro. Era o primeiro automóvel do Rio – um Peugeot preto que soltava os traques mais explosivos e constrangedores. Desembaraçado o carro no cais do porto, Patrocínio girou a manivela e entrou nele, de quepe e guarda-pó, sob aplausos e apupos da multidão. A custo de vários desmaios e mortes do motor, atravessou a Rua Primeiro de Março a dez quilômetros por hora e conseguiu levar a furreca até sua casa, no Engenho de Dentro. Dias depois, convidou Olavo Bilac a dar uma volta. E este, peralta como ele só, também quis dirigir a geringonça. O próprio Patrocínio mal sabia fazer o carro andar em linha reta, mas achava-se com ciência para instruir Bilac. Os dois passaram por cima um do outro no assento e trocaram de lugar. Patrocínio mostrou-lhe como dar a partida e Bilac, sem controle dos pés e das mãos, pisou na tábua até o fundo, com o ímpeto de quem esmaga uma lacraia. O carro soltou dois ou três puns ribombantes, disparou em ziguezague pela até então pacata ruela suburbana e, cem metros depois, achatou-se contra a única arvora à vista. Por milagre, nenhum dos dois se machucou. Só o carro levou a breca.[6] Somente o seu prestígio de poeta e a férrea amizade de Patrocínio puderam livrar Olavo Bilac de envolver-se em um inquérito policial... E o episódio entrou para a história dos casos burlescos do grupo da boemia carioca, com tons hollywoodianos, quando se leva em conta a versão de Bilac para o fato – “romanceada” por Ruy Castro: Quanto a Bilac, exibindo um galo na testa, adorou acrescentar o caso a sua mitologia particular e contou-o dezenas de vezes na Colombo. Na sua versão, a árvore que transformara o carro em sanfona brotara de repente do chão, germinada num átimo por Zeus, para impedir que ele, Aquiles do valente, vencesse os deuses em velocidade. Mas, dizia Bilac, os deuses estavam com os dias contados: os automóveis eram os Pégasos modernos e um dia seria possível a qualquer um ir ao Olimpo de manhã e voltar ao Rio a tempo de pegar o fim de tarde na Colombo. E quando isso acontecesse, todos se lembrariam: o primeiro acidente automobilístico no Brasil fora provocado por um poeta.[7] Na alfaiataria Raunier & Cabral, vestiam-se os ministros e os políticos mais destacados. Houve uma tal Casa Alemã, que também pertencia ao staff da alta costura, mas que acabou depredada pelo povo, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, em 1942. Na sobreloja do Magazine América & China, o Mestre-Escola Saturnino da Veiga (pai de Evaristo da Veiga) manteve um colégio primário, na primeira metade do século XIX, só fechando as portas mais tarde para virar livreiro, com os filhos. O Jockey Club também manteve um salão na Rua do Ouvidor, para comodidade de seus associados. Em 1851, donas de casa puderam presenciar a inauguração da primeira loja de máquinas de costura Singer, na Ouvidor, e, em 1853, perto de um malcheiroso salão onde se comercializavam escravos, um tal Dr. Whitemore “tapava dentes furados com ouro” e vendia um “elixir antifétido para conservar a boca em boa estado”, além de outras “maravilhas” trazidas dos Estados Unidos da América. O telefone teve uma de suas sua primeiras ligações efetuada na Ouvidor, sob o mecenato de Pedro II: em 1877, já se podia estabelecer comunicação entre o Paço Imperial, o Jornal do Commercio e a estação dos Bombeiros. A novidade foi tão bem vista, que logo as autoridades imperiais se esforçaram por instalar aparelhos de telefone nas repartições públicas e nas estações ferroviárias que ficassem distantes até 70 Km do Rio de Janeiro. Parecia que todos os caminhos levavam à Rua da Ouvidor, cujo prestígio já era inquestionável, como afirma Rui Barbosa: “A Ouvidor é o desfiladeiro do nosso espírito, rua legendária da liberdade, nosso Fórum, nosso Monte Aventino, onde o povo diariamente se reúne e delibera”.[8] As passeatas e os grupos nela se reuniam para, dali, seguirem para os comícios políticos. Monarquistas, abolicionistas, republicanos e simpatizantes fervilhavam à porta dos cafés e redações de jornais, não raro se enfrentando por causa desta ou daquela frase dita por este ou aquele baluarte dos liberais ou dos conservadores... No Café do Brito bebericavam e pitavam os monarquistas; no de Londres, os republicanos. O célebre pintor Manet, de passagem pelo Rio, em 1849, bem pode ter testemunhado uma dessas muitas “arruaças” que a rua mais mundana, jornalística e literária do Rio ofereceu à posteridade. Neste ambiente totalmente carioca, precursor do modernismo cultural que balançaria a capital e as estruturas de poder que ali se desenvolveram, achamos as principais livrarias e editoras daquele momento: os Laemmert, que chegaram ao país por volta de 1850; Luís Batista Garnier, vindo da França em 1844, que construiu um edifício cujo andar térreo foi todo adaptado para a exposição de livros – e que Rui Barbosa visitava quase todos os dias, depois da sessão do Senado Federal; a Livraria Francisco Alves e a Confeitaria Cailtau, pioneira da nossa literatura didática; ou então a Casa Crashley, importadora de livros e revistas estrangeiros, que tinha em Machado de Assis um dos seus fregueses mais diletos. Em 1896, o italiano Pascoal Segreto instalou na Ouvidor o primeiro “kinetoscópio” ou “animatógrafo” ou, ainda, “omniógrafo” – como era conhecido o cinema nos seus primórdios, na última década do século XIX, exibindo imagens pitorescas, como as de uma mulher “agindo em variadas posições” e uma briga de galos ao vivo. A “mágica” era conseguida projetando-se imagens extraídas de fotos que, postas em seqüência veloz, adquiriam determinados movimentos. Segreto deu também impulso ao ramo dos espetáculos de palco, patrocinando a famosa ilusionista “Inana” (cujas espalhafatosas apresentações gravaram para sempre, na memória popular, o famoso bordão “Olha a Inana!”...) e a importação dos primeiros fonógrafos ingleses, “a repetirem discursos e músicas que impecavelmente eram enlatados, como se não tivessem vida”.[9] As duas primeiras salas de cinema inauguradas na Ouvidor, em 1910, foram a “Ouvidor” e a “Kab-Kab”, seguidas pelo “Palace”, dos Irmãos Labanca. O Jornal do Brasil registrou assim uma das primeiras exibições cinematográficas feitas no Rio, em 1897: “Como um caso estupendo, conta a Bíblia que Josué fez parar o sol e, entretanto, o Cinematógrafo Super Lumière, no Paris-Rio, fá-lo dançar maxixe. Imagine-se o astro rei caído nos requebros exagerados da nossa dança, como qualquer turuna da Cidade Nova. É impagável!”.[10] Vários movimentos literários tiveram berço na Rua do Ouvidor, como o simbolista, surgido na redação da Folha Popular, onde Emiliano Perneta, seu chefe, deu o primeiro emprego a Cruz e Sousa. A própria Academia Brasileira de Letras é filha da Ouvidor, tendo nascido na redação da Revista Brasileira, em 1896 (e reaparecendo na Travessa do Ouvidor, depois de 1890, com a colaboração de Machado de Assis, Sílvio Romero, José Veríssimo, Visconde de Taunay e Joaquim Nabuco). Mas a abertura da Avenida Rio Branco, nos primeiros anos do século XX, viria a tirar da Rua do Ouvidor o status de “rua líder”, que conseguiu manter por quase um século inteiro. O “Rio-do-bota-abaixo”, do Prefeito Pereira Passos, convivia agora com picaretas e remodelações urbanísticas, obras faraônicas no cais do porto (sinalizadas na imprensa, com grande alarde), seguindo o projeto saneador que as elites (políticas e até intelectuais) sonhavam para a cidade: fazê-la ser, ao feitio parisiense, uma espécie de cidade-luz dos trópicos, com capacidade de atrair investimentos externos. O poeta Oscar Lopes, num soneto satírico, assim lamentava a decadência da rua que se tornara o reduto da intelectualidade carioca: “Cabeça da cidade que seria cortada ao meio por uma espada feroz”.[11] E à Ouvidor restou funcionar, de madrugada, como via de escoamento da produção agrícola e dos carretos bovinos; pela hora do almoço, como lugar de sesta para os comerciantes, que punham nas calçadas suas cadeiras e aguardavam pelos fregueses; e à tarde, como passarela para a elegância dos privilegiados e para a miséria dos menos favorecidos, numa mistura de retratos vivos de uma nação que construía, a passos bêbedos, a sua própria identidade, em tempos modernos.
Euclides na Rua do Ouvidor: o(s) (pré-)modernismo(s).
É lugar-comum atribuir-se a origem e o desenvolvimento do movimento conhecido por Modernismo à esfera da intelectualidade paulista. São Paulo, a partir deste ponto de vista hegemônico, seria mais do que simplesmente a cidade responsável por sediar a Semana de Arte Moderna de 22, mas aquela que teria dado curso a uma série de rupturas artístico-culturais que inaugurariam a modernidade no pensamento brasileiro. Em parte, através desta visão unilateral, que punha o grupo paulista como símbolo do vanguardismo estético e político, acabou-se colaborando para uma certa desqualificação do Rio de Janeiro – então, Capital Federal – em relação a São Paulo. Não são raros os clichês que giraram (e, de alguma forma, continuam circulando) na tentativa de patentear a falta de vocação para a liderança da cidade do Rio: 1. o clichê do “clima” – cidades tropicais seriam avessas à ordem política, intelectual e cultural; 2. o clichê do “esbanjamento” – sem disciplina econômica, o Rio seria um centro de desordem administrativo-financeira; 3. o clichê do “desvio cultural” – os cariocas só pensariam em samba, praia e carnaval. Essa “dispersão” das forças produtivas não combinaria, segundo os intelectuais paulistas, com o papel de cidade-sede do país, que o Rio de Janeiro vinha protagonizando desde 1763, ainda nos tempos do Brasil-Colônia. Não vamos tratar, aqui, da lendária “rivalidade” entre Rio e São Paulo, mas tentar desmistificar essa visão estereotipada segundo a qual: 1. o Rio de Janeiro não é uma cidade séria – ou, em última análise, questionar os porquês de a cultura do riso, da ironia e do humor ser desconsiderada como forma de pensar a cidade e seus espaços de interação social; 2. não teria havido modernismo no Rio de Janeiro, mas tão-somente em São Paulo, como postulavam os ideólogos do grupo paulista Verde-amarelo – dentre eles Plínio Salgado, Cassiano Ricardo e Menotti Del Picchia. Em suma, averiguaremos de que forma São Paulo se impôs como versão apolínea da urbe, enquanto ao Rio coube a imagem dionisíaca, que fatalmente se confunde com uma tal marginalidade que nenhum projeto cultural hegemônico pode comportar. Se, como dizia o poeta de Vila Isabel, Noel Rosa, “São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila dá samba”, vamos buscar valorizar certos aspectos desta “cultura marginal” carioca que foram decisivos para a conformação do conceito de nacionalidade, sem prejuízo do trabalho vanguardista desenvolvido pelo grupo de São Paulo. Compreenderemos, portanto, o quanto o grupo do Rio envolveu-se no processo de modernização da própria cidade, na efervescência cultural da belle époque, atuando em frentes aparentemente contraditórias – ora com uma visão cética sobre a modernidade, ora ironizando-a, justamente por não poder encará-la como “coisa séria”, conforme sugeriam os paulistas. Isto nos levará a pensar não em modernismo, mas em modernismos, e sem necessariamente estipulá-lo(s) como invenção exclusiva da Semana de 22. Depois disto, nos encontraremos com Euclides da Cunha, nos cafés da Rua do Ouvidor, paradigmaticamente inserido (ainda que “por empréstimo”[12]) neste sentido moderno “à carioca”, de caráter fragmentário e alternativo: acolhendo a dinâmica acidentada do cotidiano daquela rua e daquela cidade, que lhe permitiram metaforizar-se como mais um “quixote” à procura de sua(s) causa(s), e tendo a literatura como missão.
Os cafés da Ouvidor – intelectualidade e resistência.
Freqüentar os cafés da Rua do Ouvidor e imediações significava, para os intelectuais que se reuniam naqueles tempos de burburinho (últimos anos do século XIX e primeiros do século XX), uma forma de resistência aos planos da elite política, que queria “modernizar” o Rio à força de um discurso saneador, como vimos. Exatamente por não haver contemplado os intelectuais e as camadas populares da população, esse discurso não deu conta de instaurar, sozinho, o clima moderno que se exigia da Capital Federal, antes mesmo de 1922. Escritores, artistas, políticos, ativistas, “quixotes” e “turunas”, então, compartilhavam, nas animadas mesas e tertúlias[13] da Ouvidor, de um sentimento de exclusão que lhes foi extremamente produtivo. Debruçaram-se sobre canecos de chope e sobre o submundo da cidade, na tentativa de captar o “ethos” carioca – e, quem sabe, o sentido mais original do “ser brasileiro”. Num primeiro momento, homens de letras e de copos como Lima Barreto e João do Rio chegam mesmo a manifestar-se severamente contra a tal “modernidade”, que destrói lugares afetivos (como quando da abertura da Avenida Central, que descaracterizaria parcialmente o traçado da Ouvidor). Toda a obra desses escritores, por exemplo, é uma ode à paisagem citadina, descrevendo com vivacidade e nostalgia os becos (“quebradas”), os murais e vitrais dos bares, as sonoridades de cada esquina, os trapeiros, tatuadores e artistas mambembes. Lima Barreto traduz bem essa identificação do artista com as ruas: “A cidade mora em mim e eu nela.”[14] É um brado de inconformismo e espontaneidade, em nome de uma realidade cotidiana que se mantinha incógnita para a República modernizadora. Os literatos cariocas, então, acabam por refutar a idéia de um movimento estético organizado, pulverizando suas linhas de atuação – talvez por considerarem negativa a imagem de uma literatura protocolar, ligada à vida oficial e burocrática[15]. Na opinião destes intelectuais, qualquer projeto “sistemático” de renovação artística eliminaria, por extensão, a dose de rebeldia que o fazer literário demanda. Daí, não ter havido exclusividade na condução das propostas “modernistas” no contexto do Rio de Janeiro: numa acepção baudelaireana, o conceito de “artista moderno”, para os cariocas, foi identificado com a capacidade de interação entre “idéias” e “ruas”, “arte” e “povo”. Neste sentido, não procede falarmos de uma “inauguração” do modernismo nesta ou naquela cidade, muito menos de “pré-modernismo” ou “vazio cultural”, antes de 22; o que devemos intuir é um processo dinâmico, que começa bem antes de 22, justamente porque já estava inscrito na tradição cultural e no pensamento filosófico brasileiro, para os quais os homens de letras da Ouvidor contribuíram enormemente. Se, em São Paulo, as crônicas de Juo Bananére já davam conta dessa dinâmica social, muito antes dos Andrades, por que não dizer que o entrecruzamento de experiências, no Rio, de um Lima Barreto e de um Euclides (cada um a seu modo) já configuraria a própria construção do imaginário moderno? Imaginemos, portanto, uma outra República, que, no Rio, se oferecia como alternativa à de Floriano Peixoto e sua desconcertante crise de legitimidade: trata-se da “República das Letras”, que tinha seus “ministérios” bem constituídos, de acordo com a preferência do freguês. Ia-se à Livraria Garnier, e lá estava Machado de Assis, cultivando sua roda de poucos e seletos amigos[16]; os simbolistas ou nefelibatas reuniam-se em torno de Cruz e Sousa; os boêmios, em torno dos tonéis de chope alemão e de Paula Nei. É claro que, como todo “governo paralelo”, esses grupos sofreriam perseguição política, em menor ou maior escala, nesta ordem (José do Patrocínio é deportado; Bilac refugia-se em Minas Gerais; Paula Nei desaparece dos cafés depois da morte de Pardal Mallet, seu amigo e polemista). Porém, toda repressão supõe uma reação, ainda que subterrânea – o que não foi o caso do grupo do Rio. A República das Letras instituiu-se para valer, nas rodas dos cafés, nas livrarias, nas confeitarias, nas revistas, nos salões da Rua do Ouvidor e na Academia Brasileira de Letras. Seu estatuto tinha, como parágrafo único, a delimitação do espaço de luta e de criatividade do intelectual, que já intuía não ser bem aquela outra (a de Floriano) a República de seus sonhos. Esta visão cética e desencantada da realidade está presente nas obras de autores tão distintos quanto Machado de Assis e Euclides da Cunha. Enquanto este faz de seus escritos um libelo contra o “atraso” dos sertões e das selvas, através do ensaio científico misturado à descrição quase épico-poética do “cautério das secas”, aquele investe na linguagem sardônica de quem se emparelha com a subjetividade e o intimismo, para extrair do caos circundante a própria criatividade. Dados ao positivismo ou ao simbolismo, estes e outros escritores que circulavam pela Rua do Ouvidor estavam, cada qual a seu modo, imersos numa indagação crucial, quanto ao papel de seu fazer literário frente às questões prementes da nossa nacionalidade. A histórica questão que põe, de um lado, “homens de ciência” e, de outro, “homens de arte” não representou empecilho para a modernidade carioca. Na verdade, essa dicotomia nos foi legada pela própria tradição do pensamento ocidental, historicamente marcado pelo veto às formas de narrativa ficcionais como leituras reflexivas, tanto quanto o discurso científico. Ao longo do século XIX, a ciência apresentou-se como a linguagem única, capaz de traduzir a formação de nossa nacionalidade, deixando à literatura a pecha do mero entretenimento. Sem a legitimação do pensamento científico, qualquer discurso passava a cair no vazio, não tendo força representativa para designar o quanto nós, brasileiros éramos “modernos” e estávamos na dianteira da formação do nosso próprio imaginário de “maturidade cultural”. Alguns de nossos melhores romances naturalistas enxergam e ampliam essa necessidade de sermos (ou, ao menos, parecermos...) crescidos, sérios, ou, em uma palavra, “científicos”. Daí, observarmos duas diferentes concepções de “modernidade”, convivendo lado a lado, e dando margem a que os escritores optassem por uma ou outra ou, até, que escolhessem pelo “entrelugar” – o que aconteceu com Euclides da Cunha. No caso da obra euclidiana, coexistem os discursos da moderno-ciência e da moderno-estética, no embate titânico entre o engenheiro e o homem de letras. O autor de Os Sertões transita entre o grupo dos intelectuais que se postam à frente de uma causa, defensores que são do progresso político da nação e críticos dos que se eximem de fazê-lo, a bem do discurso onírico da literatura; mas não deixa de caminhar com os que acreditam no poder da palavra como forma de mediação entre um presente imediato e um projeto que contemple, para o futuro do pensamento sobre a civilidade e a nacionalidade, os caminhos do sujeito histórico (e, por que não dizer, do sujeito enunciador dessa mesma história, reinventando o discurso científico-positivista, ao inseri-lo como possibilidade na categoria ficcional). Ao finalizar seu “livro-vingador” com o aforismo “Canudos foi um crime. Denunciemo-lo.”, Euclides nos dá conta de seu mal-estar (e isso não era exclusividade sua...) com o universo da ciência positivista, consoante a qual tivera toda a sua formação intelectual. O escritor não precisou nem tanto aprofundar as suas conversas nos cafés cariocas para avaliar que o modelo científico que a República lhe apresentava não conseguia explicar, muito menos legitimar os eventos trágicos que sucederam nos sertões baianos, naqueles idos anos do final do século XIX. Seria pré-moderno o discurso euclidiano? Talvez, muito mais do que isto: trata-se de uma experiência da modernidade à luz da tragédia, da heroicidade e do tom desencantado que o pensamento nietzcheano, por exemplo, já se propunha a apontar, também por aquele momento. Neste sentido, Euclides se faz “turuna” e “quixote”, num esforço prometéico pela modernização social do Brasil: “Ou progredimos ou desaparecemos.” – dita, malandramente, a voz do escritor-mosqueteiro, que ainda ecoa nas ruas do Ouvidor de nossa memória. BIBLIOGRAFIA: ABREU, Regina. O enigma de Os Sertões. Rio de Janeiro: Rocco/Funarte, 1998. CASTRO, Ruy. Bilac vê estrelas. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. (Col. Literatura ou Morte.) COHEN, Alberto A. (Alberto Alves.) Ouvidor, a rua do Rio. Rio de Janeiro: AA Cohen, 2001. CUNHA, Euclides da. Os sertões (campanha de Canudos). Edição crítica por Walnice Nogueira. Galvão. São Paulo: Brasiliense, 1985. GERSON, Brasil. História das ruas do Rio: e da sua liderança na histórica política do Brasil; notas, introdução e fixação do texto por Alexei Bueno. 5.ª ed. remodelada e definitiva. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2000. SANTANA, José Carlos Barreto de. Ciência e Arte: Euclides da Cunha e as Ciências Naturais. São Paulo: HUCITEC, 2001. SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão; Tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 2ª. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. VELLOSO, Mônica Pimenta. Modernismo no Rio de Janeiro; turunas e quixotes. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996.
[1] Na gíria carioca atual, “quebradas” quer dizer “caminhos estreitos”, “becos”, ou quaisquer lugares freqüentados pela marginalidade ou pela boemia. [2] A Rua do Sucussarará recebeu esse nome em virtude de um fato no mínimo prosaico: conta-se que morava nesta rua um tal comerciante português que, sofrendo de hemorróidas e já desesperançado com os variados tratamentos a que vinha se submetendo, sem sucesso, acabou por “acertar” com um médico inglês que atendia por aquelas bandas. Diz-se que o doutor procurava reanimar o português, dizendo uma certa frase que, de tanto ser repetida, de boca em boca, pelos moradores e conhecidos de ambos os personagens desta história, acabou por se converter em uma referência para o trecho da rua onde o nobre e obeso patrício “assentava”, confiante nas reconfortantes palavras do médico bretão: “Sucussarará”... Ver mais detalhes in: GERSON, Brasil. História das ruas do Rio; e da sua liderança na histórica política do Brasil. 5.ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lacerda, 2000. p. 80 [3] Curiosa é a história de Artur Neiva, que, em uma de suas viagens, travara contato com um australiano que se queixava das diferenças entre o falar e o escrever na língua portuguesa: “- Pois no Rio de Janeiro o nome da rua principal, escrito nas placas, é Moreira César: aqui está nos meus apontamentos. Mas para todos os brasileiros a sua pronúncia é Rua do Ouvidor...” in: GERSON, B. (2000) p. 42 [4] A memória popular guardou musicalmente este acontecimento através de uma modinha de lundu: “Estamos no século das luzes/ Não podemos duvidar/ Anda gás por toda a parte/ Para nos alumiar...” in: GERSON, B. (2000) p. 44 [5] Raul Pederneiras define, em seu dicionário de gírias cariocas, turuna como “chefe, destemido, valente”, ou o que se chamaria de “malandro”. A palavra também serviu para designar, durante muito tempo, os cordões ou blocos carnavalescos que animavam o carnaval de rua do Rio de Janeiro. O turuna, portanto, está identificado ao universo da irreverência e da marginalidade. Já o termo quixote vem da personagem de Cervantes, o clássico cavaleiro andante que designa altruísmo, idealismo e capacidade de renunciar e de sonhar. Ambas as figuras servem como metáforas para os intelectuais que freqüentavam a Rua do Ouvidor, nos seus áureos tempos: um misto de heróis da resistência em tempos politicamente agitados, como os dos primórdios da República, e de rebeldes que traduzem a vanguarda do pensamento sócio-cultural do Rio e do próprio Brasil – embora se sintam, por vezes, desprestigiados pelos círculos do poder. [6] CASTRO, Ruy. Bilac vê estrelas. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. (Col. Literatura ou Morte.) p.14-5 [7] CASTRO, R. (2001) p. 15 [8] in: GERSON, B. (2000) p. 49 [9] in: GERSON, B. (2000) p. 50 [10] apud: VELLOSO, Mônica Pimenta. Modernismo no Rio de Janeiro; turunas e quixotes. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996. p. 48 [11] apud: VELLOSO, M. (1996) p. 79 [12] Euclides da Cunha não era carioca, mas fluminense: nasceu na cidade de Cantagalo, na região centro-norte do Estado do Rio, mas participou de eventos importantes na Capital, ainda como cadete da Escola Militar da Praia Vermelha e, mais tarde, como escritor consagrado e membro da Academia Brasileira de Letras. [13] Tratava-se de pequenos improvisos performáticos, que “fechavam” cafés para discursos e declamações dos poetas e intelectuais da época, e reuniam grande público, interessado nos “jornais falados” e nos desafios lançados entre os próprios pares do evento. Como registra Mônica Velloso, “Das tertúlias literárias nasciam freqüentemente revistas, cujas folhas provocativas antecipavam, pressagiavam e polemizavam idéias.” in: VELLOSO, M. (1996) p. 49 [14] apud: VELLOSO, M. (1996) p. 29 [15] Muito embora vários destes intelectuais terem sobrevivido graças a empregos públicos e/ou burocráticos, como relata Mônica Velloso: “Para nossos intelectuais a cisão entre o trabalho e o prazer é marcante. Boa parte do grupo está vinculada ao funcionalismo público. Lima Barreto e Domingos Ribeiro Filho trabalham na diretoria da Secretaria da Guerra, Kalixto é funcionário na Imprensa Nacional e professor de desenho em escolas públicas. Raul Pederneiras ocupa inicialmente o cargo de delegado de polícia e depois torna-se professor da Escola Nacional de Belas-Artes e da Faculdade de Direito. (...)” in: VELLOSO, M. (1996) pp. 46-7 [16] Embora Euclides da Cunha tenha formalmente apresentado sua candidatura à Academia Brasileira de Letras, isto não significou que tivesse se identificado totalmente com a roda literária de Machado de Assis – presidente da instituição e ardoroso defensor de que à Academia interessasse o exame das questões estritamente literárias, corrente mais forte e poderosa, no momento em que Euclides é eleito (1903). Em seu próprio discurso de posse, o escritor expressa a dificuldade de passar a fazer parte de um círculo de “homens de letras”, sendo ele um “homem de ciência”, e sobretudo um intelectual preocupado com as questões sociais de seu tempo. Esta posição o aproximava mais do grupo de Sílvio Romero, desafeto de Machado na Academia, e responsável por fazer o discurso de recepção de Euclides – no qual não desperdiçou a oportunidade de confronto com o presidente. Assim, sob a aquiescência de Machado de Assis, de um lado, e adorado pelos imortais de discurso social, de outro, Euclides entra para a Academia Brasileira de Letras em virtude de seu próprio mérito, e depois do sucesso estrondoso de Os sertões, descrevendo a trajetória pessoal de um egresso do interior que, embora fosse avesso a compadrios e “filiações” a rodas, soube dialogar com os freqüentadores dos cafés da Rua do Ouvidor – homens que, como ele, gostariam que se conferisse um outro estatuto (talvez, “moderno”, no sentido de comprometido com o progresso da sociedade) para as artes no Brasil. |
| Prof.ª Ms. Anabelle Loivos Considera | << Próximo || Anterior >>
Apoio |
||||