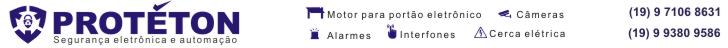| Euclides e o berço de Os Sertões |
|
Usuarios Online: 9
|
15:58:47 , Friday, 09 de May de 2025 , Boa Tarde! |
|
|
| ARQUEOLOGIA DE UM LIVRO-MONUMENTO: Os Sertões sob o ponto de vista da Memória Social |
|
|
| 2002-06-24 00:00:00 |
|
|
|
Refletir acerca de um livro sob o ponto de vista da memória social remete à dinâmica entre duas forças antagônicas: a lembrança e o esquecimento. Por que alguns livros resistem ao tempo permanecendo vivos na memória dos homens, sendo continuamente revisitados por eles, enquanto outros são facilmente esquecidos, tornando-se descartáveis e ultrapassados? O que mantém um livro vivo? Por intermédio de quais forças, pela ação de quais agentes um livro sobrevive, mantendo-se atual, conectado com um presente cada vez mais acelerado e mutável? Por que e para que ler um livro escrito há cem anos e no mesmo movimento esquecer outros produzidos há menos de uma década ou mesmo meses e semanas? Como assinalou Walter Benjamin, a sociedade moderna ancora-se em dois pilares que remetem a uma certa noção de temporalidade: o conceito de novidade e o de objetividade. Numa sociedade sedenta pela novidade absoluta, o jornal da véspera é útil apenas para embrulhar o peixe na manhã seguinte. Sob o signo da notícia - a informação que se presume objetiva e nova - o tempo da modernidade se caracteriza pela aceleração constante de um eterno presente em direção a um vago e incerto futuro, onde o passado convém ser esquecido. Quando os liames entre passado, presente e futuro se rompem e o passado não serve mais para iluminar o futuro, a humanidade caminha às cegas, argumentou Hanna Arendt. O que de essencial, de crucial, de atávico existiria em obras que batizamos de clássicos e que merecem contínuas comemorações, atualizações, reedições e mesmo cultos e adorações? A que função social estas obras estariam servindo, uma vez que em tudo e por tudo elas parecem justamente caminhar no sentido inverso em que se projetam as forças dominantes de um mundo que se movimenta incessantemente através do ato de construir para destruir? Para que guardar, conservar, preservar se tudo pode ser reinventado, refabricado, reatualizado? Qual a lógica que preside a perenização num contexto em que nada é feito para durar? Estudando sociedades tradicionais, a Antropologia Social sistematizou um conhecimento sobre o valor do sagrado em uma cultura. Este sagrado pode estar metaforizado em objetos de cultura material ou em pessoas representativas para uma aldeia ou comunidade. É o caso de um certo machado semi-lunar de pedra arqueológica (Kyire) produzido pelos índios Krahó, do norte de Goiás. Para eles, o machado é uma metáfora, sintetizando sua história que começa numa era mítica e é contínua sem periodizações. Em 1947, o antropólogo Harald Schultz coletou o machado para sua pesquisa e o doou ao Museu Paulista. No início de 1986, um grupo de índios Krahó passou tres meses em São Paulo até obter de volta o machado que fora indevidamente retirado da tribo. Como assinalou Berta Ribeiro, objetos como este tornam-se símbolos de heranças e tradições em uma cultura, representando o esforço de um grupo humano em construir uma identidade social que ancora-se nos elos de ligação entre o passado, o presente e o futuro. "Essa busca de legitimação, através de símbolos, é comum ao índio e ao branco. Quando ela se sedimenta, o artefato-símbolo se torna o espelho da identidade. Por sua durabilidade, a cultura material tem uma existência que se prolonga no tempo. Compõe imagens familiares do mesmo modo como o ambiente físico com o qual o indivíduo se habitua a conviver." Nas sociedades ocidentais essencialmente letradas, os livros sagrados podem ser vistos em dupla significação. Por um lado, compõem o universo da cultura material uma vez que são objetos tridimensionais com uma existência própria, específica. Por outro lado, contêm ensinamentos que só podem ser apreendidos por meio de uma repetição constante que não se esgota jamais. Assim, como os mitos em sociedades tradicionais devem ser contados de forma ritualizada num ambiente propício onde toda a assembléia se reúne para tal fim, nas sociedades modernas persistem alguns espaços onde livros sagrados como a Bíblia são lidos em voz alta para uma assembléia atenta no contexto de rituais específicos. Estes livros sagrados, dos quais os clássicos constituem uma modalidade, funcionam com duplo potencial simbólico. De um lado, enquanto objetos reverenciados sintetizam de forma metafórica o conjunto de uma doutrina. De outro lado, enquanto relatos compilados de narrativas orais, sustentam tradições de longa duração numa cultura. Embora seja possível proceder a um estudo científico da Bíblia, em termos sociológicos sua principal função consiste em permitir com que indivíduos isolados se considerem fazendo parte de um mesmo conjunto, partilhando os mesmos ideais e os mesmos valores. A Bíblia funda e atualiza uma tradição católica, assim como o Alcorão funda e atualiza uma tradição muçulmana. Enquanto objetos, estes livros merecem reverência e respeito dos povos, pois qualquer atitude em contrário é capaz de gerar conflitos e guerras indesejadas. O livro sagrado é seminal em uma cultura mantendo íntima relação com diversos tipos de produção. George Steiner dedicou-se, por exemplo, a mapear as relações da Bíblia com a literatura. Segundo ele, muito do que se produziu e do que se produz relaciona-se de algum modo com a Sagrada Escritura. "As histórias de Moisés e de Sansão ressurgem grandiosas no romantismo francês (Victor Hugo, Vigny). O Proust que conhecemos não existiria sem Sodoma e Gomorra. Tampouco Kafka, sem as Tábuas da lei, ou Racine sem Esther e Athalie. Ecos da Bíblia, o jogo de citações escondidas ou de paródias são tão indispensáveis ao Fausto de Goethe quanto às fantásticas reflexões de Henry James sobre o Éden e sobre o pecado capital em A taça de ouro". Pierre Nora, o criador da expressão "lugares de memória" chamou a atenção para o fato de que nas sociedades modernas, o domínio da História enquanto disciplina, com um corpo sistematizado de teorias e métodos e uma perspectiva de busca objetiva de uma verdade sobre o passado, estaria ofuscando o trabalho da memória. Estaríamos fadados a aprender com a História (com H maiúsculo) as verdades sobre o passado. E no mesmo movimento, seríamos obrigados a relegar ao esquecimento toda uma tradição de memória desenvolvida ao longo de séculos e que nada tem a ver com o conhecimento racional e científico sobre fatos produzidos por historiadores sobre o passado. Sendo Nora um historiador, desperta nossa curiosidade o interesse dos próprios historiadores em fazer uma espécie de meta-história, relativizando seus próprios instrumentos de trabalho e uma disciplina que levou tempo para se firmar como ciência. Entretanto, o caminho trilhado por Nora, entre outros, é útil para retirarmos o véu que durante anos encobriu as ditas verdades históricas. Se não pensamos sempre com categorias históricas, ao menos desta historicidade produzida a partir do século XIX, com que categorias foi possível pensar o tempo e nossa relação com ele? Ainda segundo Nora, categorias de pensamento produzidas em outros contextos históricos, dos quais a Antiguidade emerge como destacado exemplo, não contemplavam uma relação racional e científica, mas pelo contrário, estimulavam a relação afetiva com o tempo e com os homens através dos tempos. Lembrar é uma função vital para sociedades tradicionais assim como o era para nossos ancestrais durante a Antiguidade. Numa sociedade onde não se privilegiavam arquivos, museus e bibliotecas como guardiãos de memória, todos deviam lembrar. Ao menos das regras e condutas básicas que tornavam possível o viver em sociedade. Deste modo, certos rituais podiam por exemplo marcar um tempo pensado e vivido como cíclico, de eterno retorno. Nora entende que o século XX no Ocidente tornou cada vez mais agudo um paradoxo: jamais se falou tanto em memória em nossas sociedades, justamente porque nelas a memória se perdeu. É o fato de não sermos mais capazes de lembrar que alimenta a multiplicação de arquivos, museus, bibliotecas e outros lugares capazes de armazenar a memória expulsa do tecido social. Assim, os "lugares de memória" incluiriam lugares físicos para guarda, classificação e disponibilização da memória social, bem como lugares pouco palpáveis como datas de aniversário e celebrações ou até mesmo pequenos eventos como os "minutos de silêncio" que se convencionou fazer em homenagem aos mortos. Na disputa entre a História e a Memória, nem mesmo a chamada "Memória Nacional" teria sido poupada. Nora a considera nosso último reduto de memória coletiva. A crítica dos historiadores a toda a forma de memória terminou por lançar no limbo da ideologia ou "má ciência" toda uma tradição construída como arcabouço das nações modernas. No alvorecer do século XXI encontramo-nos frente a um paradoxo. Se, por um lado, os Estados-nações mantêm-se ainda enquanto uma das principais formas de pertencimento e de construção de identidade social, por outro lado, houve uma crescente dessacralização de ícones e símbolos referentes à "memória nacional". Se, no processo de construção dos Estados-nações no Ocidente, um grande esforço foi feito no sentido de constituir um aparato de símbolos e monumentos que identificassem as singularidades nacionais e tornassem possível o estabelecimento de vínculos entre os cidadãos e a idéia abstrata de nação, no final do século XX toda uma vertente da História caminhou no sentido de demolir todo este aparato, denunciando suas "inverdades", o fundo "falso" e sobretudo "ideológico" sobre o qual fora erigido. Veja-se por exemplo o caso dos heróis e dos chamados grandes personagens antes cultuados pela Memória Nacional. Pesquisas minuciosas foram conduzidas em nome da ciência histórica para destituí-los do caráter sagrado a que haviam sido revestidos. A busca da verdade histórica contaminou a tal ponto as tentativas de perpetuação da Memória Nacional que colocou seus defensores numa posição de anacronismo. Poucos sobreviveriam. Entretanto, era preciso que estes, ainda que poucos, sobrevivessem. Como falar de uma tradição inventada, datada, recente como a tradição nacional sem que se invocassem seus fundadores e, principalmente, seus idealizadores? Como ensinar para as novas gerações a história de um país sem que se mencionassem aqueles que lutaram pela sua implantação, sem que se descrevessem suas propostas, suas posições, seus ideais. Como ensinar e ao mesmo tempo criar um sentimento de pertencimento, uma consciência cívica predominantemente emocional e afetiva, sem a qual nenhum projeto nacional pode frutificar? É neste sentido que pretendo argumentar sobre a importância de Os Sertões no contexto brasileiro. Ao traçar a arqueologia de um livro-monumento, gostaria de chamar a atenção para um fato que extrapola qualquer avaliação crítica e científica de suas contribuições: Os Sertões é um livro-memória, um livro sagrado da Memória Nacional. Talvez um dos poucos que tenham sobrevivido ao expurgo empreendido pela ciência histórica. Mas, fundamentalmente, um livro carregado de significações e cuja importância reside em metaforizar alguns dos dilemas nacionais. Desse modo, ele é para o Brasil o que o machado de pedra arqueológica é para os índios Krahó do norte de Goiás. Enquanto artefato-símbolo ele nos conecta com um tempo de fundação da nação republicana, sendo o próprio Euclides da Cunha personagem-símbolo da história desta fundação. Ao estar associado a este caráter fundante do nacional, o livro se articula diretamente ao processo de construção da identidade nacional. Mas por que este livro, exatamente este, e não outro? Uma das razões estaria no fato de Os Sertões se apresentar como um livro de ciência. Paradoxalmente, apenas um clássico da ciência poderia se tornar um livro de fé para estimular a crença na nação brasileira. Então, neste sentido Os Sertões é também um livro-monumento, capaz de estreitar os liames entre o presente e o passado na busca de iluminação do futuro. O tema do monumento associa-se à diferença entre a memória e a história. Como assinalou Françoise Choay, "é necessário precisar o conteúdo e a diferença dos dois termos subentendidos no conjunto das práticas patrimoniais: monumento e monumento histórico." O sentido original do termo monumento está compreendido na problemática da memória social. "Vindo do latim monumentum, que por sua vez deriva de monere ("advertir", "lembrar"), aquilo que traz à lembrança alguma coisa. A natureza afetiva do seu propósito é essencial: não se trata de apresentar, de dar uma informação neutra, mas de tocar, pela emoção, uma memória viva." O monumento está associado à função de rememoração: "fazer que outras gerações de indivíduos rememorem acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças." Choay considera ainda que "a especificidade do monumento deve-se precisamente ao seu modo de atuação sobre a memória. Não apenas ele a trabalha e a mobiliza pela mediação da afetividade, de forma que lembre o passado fazendo-o vibrar como se fosse presente. Mas esse passado invocado, convocado, de certa forma encantado, não é um passado qualquer: ele é localizado e selecionado para fins vitais, na medida em que pode, de forma direta, contribuir para manter e preservar a identidade de uma comunidade étnica ou religiosa, nacional, tribal ou familiar. (...) o monumento é uma defesa contra o traumatismo da existência, um dispositivo de segurança. O monumento assegura, acalma, tranqüiliza, conjurando o ser do tempo. Ele constitui uma garantia das origens e dissipa a inquietação gerada pela incerteza dos começos. Desafio à entropia, à ação dissolvente que o tempo exerce sobre todas as coisas naturais e artificiais, ele tenta combater a angústia da morte e do aniquilamento. Sua relação com o tempo vivido e com a memória, ou, dito de outra forma, sua função antropológica, constitui a essência do monumento." Se o monumento está associado a uma função de rememoração e este passado invocado não é um passado qualquer, mas um passado reconstruído e selecionado para fins vitais, na medida em que contribui para a construção de uma identidade social, caberia a nós explicitar este passado construído e atualizado nas páginas de Os Sertões e que lhe possibilitou atravessar o século sendo continuamente invocado. Analisar Os Sertões enquanto um livro-monumento significa entender de que forma, por meio de quais procedimentos e de quais agentes este produto sui-generis veio a se tornar um monumento. Traçar este processo ou esta genealogia significa focalizar dois movimentos que se sucederam no tempo: o movimento da consagração do livro que se deu logo após o seu lançamento em 1902 e o movimento da difusão da obra nacional e internacionalmente. Enquanto livro consagrado, Os Sertões passou para a história como documento sui generis, fonte de uma narrativa considerada autêntica sobre uma passagem sangrenta da história do país. Sua monumentalização conferiu um aspecto sagrado a esta narrativa. Intitulado "Bíblia da Nacionalidade", Os Sertões passou a vigorar enquanto um livro de verdades sobre o país, expondo suas contradições, seus dilemas, suas questões mais candentes. Se, num primeiro momento, pretendeu apenas discorrer sobre um acontecimento trágico que envolveu diferentes forças sociais no início do período republicano, o livro terminou se tornando um libelo sobre alguns dos pressupostos que deveriam nortear a implantação da nação republicana. Citado por escritores, cientistas e também por políticos, juristas e todo um conjunto de técnicos e profissionais empenhados na missão de fundar uma civilização nacional no Brasil, Os Sertões rapidamente se transformou num ícone sagrado e autêntico, uma voz autorizada sobre o Brasil. Num país com poucas tradições de longa duração, o significado de Os Sertões ultrapassa o próprio conteúdo do livro. Um forte conteúdo simbólico vem impregnando esta obra e seu autor já há muito santificado no panteão dos grandes da nação. Por que esta obra e seu autor foram sendo monumentalizados, preenchendo lugar de destaque no imaginário da memória nacional, configurando um dos poucos símbolos de uma frágil construção de memória coletiva? Quais os agentes dedicados a este processo? Como ele foi sendo tecido? É preciso focalizar a trajetória de Os Sertões enquanto uma trajetória própria com contornos singulares e alguns momentos privilegiados. O primeiro diz respeito ao lançamento do livro em 1902 e à crítica de primeira hora, responsável por sua consagração. O segundo diz respeito à formação de um grupo de admiradores que se sucedeu no tempo e que ganhou especial destaque após a trágica morte do escritor em 1909. Este movimento orquestrado por algumas lideranças foi responsável pela difusão da obra nacional e internacionalmente, criando condições para que ela viesse a ser traduzida em diversas línguas, entre elas o francês, o inglês, o japonês, o alemão, o chinês, o italiano, o espanhol, o holandês. O ponto que quero destacar é que a monumentalização de um objeto, seja ele de "pedra e cal", seja ele uma narrativa oral, ou um livro, ou um objeto intangível, ou até mesmo uma pessoa como os chamados "tesouros humanos vivos" - pessoas tombadas em países como o Japão por serem vistas como detentoras de um conhecimento importante para a identidade nacional -, enfim, todas as formas de monumentalização são discursivamente constituídas. Como assinalou José Reginaldo Gonçalves, "os objetos que identificamos e preservamos enquanto "patrimônio cultural" de uma nação ou de um grupo social qualquer, não existem enquanto tal senão a partir do momento em que assim os classificamos em nossos discursos". Assim como Gonçalves estou usando a noção de "gênero de discurso" não em seu sentido formalista, mas, na acepção formulada por Mikhail Bakhtin, como um "campo de percepção valorizada, um modo de representar o mundo". Ao identificar o livro Os Sertões enquanto um livro-monumento, estamos entendendo que diferentes agentes sociais se destacaram no processo de construção discursiva desta monumentalização e de que a sua afirmação faz parte de um processo onde uma determinada correlação de forças foi favorável nesta direção. O aspecto central para a constituição de um monumento é a sua relação com um passado considerado autêntico de um grupo social. A noção de autenticidade desempenha pois um papel determinante. O monumento enquanto expressão e símbolo de uma narrativa sagrada deve necessariamente estar conectado à construção de uma verdade autêntica sobre o passado. Neste sentido, procuraremos no curto espaço deste ensaio focalizar alguns dos elementos que historicamente contribuíram para certificar a autenticidade da narrativa épica contida em Os Sertões. De que autenticidade está se falando? Quais "verdades" sobre o país estão sendo afirmadas? A crítica consagradora de primeira hora estabeleceu algumas referências importantes nesta direção. A leitura que fizeram estes críticos, particularmente José Veríssimo, Araripe Júnior e Sílvio Romero, fornece algumas chaves para o entendimento de seu processo de monumentalização. Analisaremos algumas destas referências, chamando a atenção para a categoria "Brasil social" explicitada por Sílvio Romero, uma das chaves para a autentificação da obra de Euclides da Cunha como uma das principais narrativas épicas do país. De acordo com Romero, Euclides da Cunha teria atingido o cerne da nacionalidade construindo um novo olhar para as populações sertanejas que sempre fizeram a riqueza do país. Antes, porém, tracemos uma breve síntese do contexto social e editorial em que o livro foi lançado. 2. Lançamento e primeiras edições de Os Sertões Sílvio Romero, um dos mais importantes críticos literários do período, destacou a repercussão que teve o surgimento de Os Sertões em 1902: "de Euclides da Cunha se pode dizer que se deitou obscuro e acordou célebre com a publicação de Os Sertões. Merecia-o." Romero referia-se ao fato de Euclides da Cunha ser na ocasião um escritor estreante repentinamente alçado à glória de um dos escritores mais consagrados da capital federal. É preciso ter em mente que, em 1902, quando o livro foi lançado, o mercado editorial no Brasil apenas começava a se esboçar. Forte característica centralizadora marcava o campo literário, cujas principais agências se concentravam na rua do Ouvidor no Rio de Janeiro. Esta situação vigoraria até o incremento do surto editorial nos anos 20, em São Paulo, tendo à frente o escritor Monteiro Lobato. O mercado editorial era dominado por editores franceses ou portugueses. Francisco de Paula Brito foi o único editor brasileiro, de finais do século XIX até 1919. Criou a revista de maior duração no período, a Marmota Fluminense. Publicou autores do Romantismo, como Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, além das comédias de Martins Pena, e teve Machado de Assis como seu revisor de provas. No coração do centro comercial destacavam-se duas livrarias, uma em frente à outra, a Garnier e a Laemmert. Eram, na verdade, duas casas editoras que, tendo iniciado suas atividades em meados do século anterior, representaram um marco no setor editorial. Foi com elas que a publicação de livros se separou da edição de jornais. Porém, sobretudo no caso da Garnier, os livros eram impressos no exterior, principalmente na França ou em Portugal, uma vez que a indústria de papel era incipiente, os equipamentos gráficos praticamente inexistiam, e toda a indústria nacional engatinhava. A Laemmert iniciou suas atividades como livraria, a Livraria Universal, em 1883. Dirigida por dois irmãos, Heinrich e Eduard Laemmert, começou a funcionar também como editora a partir de 1837, inaugurando a Typographia Universal. Entre suas publicações, a mais famosa era o Almanack Laemmert que surgiu ainda no Império como o almanaque administrativo, mercantil e industrial da Corte e província do Rio de Janeiro. Os Laemmert publicavam obras gerais, como dicionários, uma coleção de máximas, obras de medicina, seleção de poesias brasileiras, estudos de literatura contemporânea. Publicavam ainda livros traduzidos do francês, mas seu forte eram os originais alemães. Chegaram a editar Goethe e foram pioneiros na literatura infantil, editando, entre outros, As Aventuras do Barão de Münchausen. A editora aventurou-se, também, embora em pequena escala, na edição de livros didáticos. A Livraria Garnier dividia com a Laemmert (Universal) o mercado de livros, concentrando-se na publicação de literatura. Dirigida pelo francês Baptiste Louis Garnier, seus livros eram impressos em Paris e Londres. Criada em 1844 e considerada a principal responsável pelo início do desenvolvimento editorial brasileiro, a Garnier teve a seu favor pontos importantes como pagamento regular de direitos autorais, boa remuneração aos tradutores, formação de um corpo fixo qualificado de redatores-revisores e maciço investimento em literatura, tanto européia quanto nacional. Baptiste Louis publicou, entre outros, Honoré de Balzac, Walter Scott, Charles Dickens, Alexandre Dumas e Oscar Wilde. Com forte tino comercial, conservador e nada afeito a riscos, ele priorizava a edição de autores consagrados. Editou a maioria das obras dos romancistas brasileiros importantes de seu tempo. A numerosa equipe de autores da Garnier incluía José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Graça Aranha, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Joaquim Nabuco, Sílvio Romero, Olavo Bilac, José Veríssimo, Artur Azevedo, Bernardo Guimarães, Paulo Barreto (o João do Rio). Baptiste Louis Garnier foi também o pioneiro e principal editor de Machado de Assis. No interior da Editora Garnier, no andar térreo, um em frente ao outro, dois extensos balcões de madeira de lei polida separavam as estantes das 12 cadeiras que serviam de palco aos informais debates literários que se realizavam todas as tardes sob a liderança de Machado de Assis. Eram as "cadeiras dos doze apóstolos". O mestre era Machado de Assis, o único a ter lugar cativo. Os demais se revezavam entre os escritores que alcançavam consagração em diferentes períodos. Machado de Assis manteve longa liderança nessa que foi praticamente a única grande editora a publicar autores brasileiros. Por esse motivo, escritores que almejavam editar seus livros na Garnier disputavam a possibilidade de desfrutar das conversas de fim de tarde na editora e, na melhor das hipóteses, a condição de serem incluídos entre os "apóstolos". José Veríssimo, Mário de Alencar, Joaquim Nabuco, Clóvis Beviláqua, Coelho Neto, Olavo Bilac foram assíduos nesse ritual e desfrutaram da benevolência do mestre. Numa sociedade restrita, em que uma editora reinava soberana na publicação de autores brasileiros, os escritores novatos não tinham muitas opções para editar seus livros: deviam "cair nas boas graças" de Machado de Assis ou dos poucos editores da capital. Outra forma era publicar em fascículos nos jornais da capital federal ou mesmo nas capitais mais importantes, como São Paulo. Fora dessas opções ou até mesmo para atingi-las deveriam freqüentar livrarias, cafés, salões e confeitarias, anunciando seus produtos, ou seja, recitando seus poemas, declamando suas crônicas ou lendo os capítulos dos livros que escreviam. Esse ritual mundano era tão intenso, que Brito Broca menciona autores, como Paula Nei, que permaneceram toda a vida alimentando o circuito da "literatura oral" dos cafés e confeitarias, sem ter conseguido editar um livro sequer. Euclides da Cunha havia participado do final da guerra de Canudos como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Militar e engenheiro, nunca havia escrito um livro, apenas artigos, poemas e ensaios publicados em jornais. Ao retornar da Bahia, em 1898, foi designado pela Superintendência de Obras de São Paulo para reconstruir uma ponte de ferro, erguida em 1896, que havia ruído após enchente numa pequena cidade do interior de São Paulo, São José do Rio Pardo. Percebendo que se tratava de trabalho demorado, Euclides mudou-se para seu novo posto com a família, nesse tempo composta por Ana, sua esposa, e dois filhos, Solon e Euclides. Como o trabalho de reconstrução da ponte exigia presença permanente no local, Euclides mandou erguer uma pequena barraca com telhado de zinco à sombra de uma paineira, que passou a servir de escritório tanto para os assuntos de engenharia como para os intelectuais. Durante três anos, na cabana de São José do Rio Pardo, ele refletiu sobre os acontecimentos que presenciou como repórter em Canudos. A partir das anotações de seu diário de campo, procurou pesquisar outras fontes para enriquecer as informações recolhidas nos sertões baianos e as pesquisas realizadas em Salvador. Relatam os biógrafos que Euclides muito se valeu nesse sentido do apoio e da solidariedade de amigos que fez em São José do Rio Pardo, como Francisco Escobar, intelectual local que lhe abriu sua biblioteca particular e que se encarregava de buscar livros de acordo com as necessidades do engenheiro. Nessa época, um engenheiro de obras públicas era figura de prestígio, comprometida com os ideais de fazer progredirem pequenas localidades, como a cidade em questão. Além disso, Euclides da Cunha era, muito provavelmente, conhecido por uma parcela das elites locais por conta de sus artigos sobre a Guerra de Canudos publicados em O Estado de São Paulo. Por intermédio de Escobar e de outros amigos, como Lafaiete de Toledo, Adalgizo Pereira, José Honório de Silos, Valdomiro Silveira, Euclides teve acesso a livros e revistas que chegavam a São Paulo. As cartas de Euclides a seus amigos revelam que muitos deles prestaram efetiva colaboração ao então engenheiro, não medindo esforços para encontrar em São Paulo ou até no Rio de Janeiro os livros de que o escritor necessitava. Veja-se, por exemplo, esta carta de de Euclides a Escobar: "Escobar. Insisto num pedido: encontra-me em São Paulo, por qualquer preço, o Ferro e Fogode Sienkiewicz, mas em inglês. Talvez já exista um no Garraux e com certeza no Rio. Euclides, 1901" Além dos pedidos de livros, outro tema recorrente na correspondência é a dificuldade em conjugar a atividade de engenheiro com a de intelectual. Nessas cartas, ora atribuía a atividade de engenheiro um valor positivo, associando-a a "questões sérias", "importantes para impulsionar o país na direção do progresso, ora atribuía-lhe valor negativo, associando-a à falta de tempo que constantemente o dilacerava, não lhe permitindo dedicar-se à atividade intelectual. A angústia de Euclides, dividido entre essas duas atividades, é exemplar para pensar o lugar em que viviam os intelectuais brasileiros, pioneiros que se dedicavam a fazer ciência no Brasil. Ainda não havia instituições adequadas para abrigar cientistas. As poucas que começavam a ser fundadas tinham, em muitos casos, suas vagas preenchidas por pesquisadores estrangeiros, como os museus nacionais. Euclides exasperava-se, com freqüência, ante a divisão entre a engenharia fatigante e o trabalho intelectual: "agito às vezes este ponto de interrogação sinistro como o Hamlet nas malhas do ser ou não ser e como herói shakespeareano deixo-me dominar pelas mais dolorosas dúvidas". E, mais adiante: "A vida ativa de engenheiro, mas de engenheiro a braços dados com questões sérias e não cuidando de emboços e rebocos em velhos pardieiros - veio convencer-me que tinha ainda muito a aprender e que não estava sequer no primeiro degrau de minha profissão." Em seu barracão de zinco, às margens do Rio Pardo, Euclides realizou de fato duas reconstruções: a da ponte metálica e a de sua viagem a Canudos como testemunha ocular de uma guerra que ao final lhe pareceu plena de equívocos. Isolado e interagindo com a literatura científica da época, o engenheiro seguia intuitivamente o caminho do cientista que revê os dados à luz de novas teorias para avançar e produzir novo conhecimento. A ponte era a metáfora de Canudos, pois, tanto numa situação como na outra, havia algo a reconstruir. A atividade de engenheiro nesse caso não era incompatível com a do escritor. Nas duas, imperava a ciência. Durante três anos, Euclides trabalhou obstinadamente nas duas atividades, permanecendo mais tempo no pequeno barracão de zinco do que em casa com a família. Ao final de 1901, dava por terminado o trabalho de reconstrução da ponte e do livro. Para um engenheiro que nunca havia escrito um livro, entretanto, não era fácil debutar na literatura, campo muito disputado e ainda dominado por pequeno grupo de livreiros, editores e escritores. Euclides não era um freqüentador das rodas literárias da Rua do Ouvidor, não tinha proximidade com nenhum escritor consagrado. Sua única opção era editar seu livro em fascículos por algum jornal conhecido. Deixou os manuscritos em poder de Júlio de Mesquita, de O Estado de São Paulo, enquanto se ocupava com a mudança de São José do Rio Pardo para São Carlos, para onde a Superintendência de Obras Públicas do Estado de São Paulo o designara. Em seguida foi para Lorena. Longos seis meses se passaram desde o encontro de Euclides com Júlio de Mesquita. Retornando à redação do jornal, encontrou seu pacote de originais no mesmo lugar em que o deixara. Decepcionado, resolveu procurar algum conhecido entre os escritores da capital federal. Foi desse modo que conseguiu do amigo Garcia Redondo uma carta apresentando-o à Lúcio de Mendonça, no Rio de Janeiro, por intermédio de quem conseguiu que a Editora Laemmert publicasse o livro com a condição de que ele contribuísse com os custos da edição. A editora não queria correr o risco editando o livro de estréia de um engenheiro e jornalista que se aventurava na literatura. Segundo Anibal Bragança, em estudo sobre as primeiras edições de Os Sertões, através de um contrato com o editor, Euclides obrigou-se a contribuir com a quantia de um conto e quinhentos mil réis para as despesas de impressão, sendo que a metade no ato da assinatura do contrato e o resto até o prazo em que deveria ficar pronta a obra, previsto inicialmente para 30 de abril de 1902. A quantia de um conto e quinhentos réis correspondia a aproximadamente metade do seu salário de engenheiro da Secretaria de Obras do Estado de São Paulo. Ainda segundo Bragança, o contrato firmado entre Euclides da Cunha e a Laemmert era um contrato editorial típico estabelecido entre autor e editor para cessão de direitos autorais de uma obra a ser editada e comercializada pelo editor. A exigência de participação do autor no investimento financeiro valia apenas para a primeira edição. O contrato estabelecia que do produto líquido da venda se pagaria em primeiro lugar as despesas da impressão e brochura, e o lucro líquido que resultasse seria dividido em partes iguais entre o autor e os editores. De regresso a São Paulo, Euclides passou todo o ano de 1902 fiscalizando obras do estado. No final desse ano, o engenheiro recebeu do editor, pelo correio, o aviso de que poderia vir ao Rio de Janeiro assistir ao lançamento do livro. Euclides chegou à Rua dos Inválidos, onde ficava a editora, e encontrou alguns exemplares da primeira edição de Os Sertões sobre o balcão. Bastante inseguro, ainda procurou, em vão impedir à última hora o lançamento do livro. Ao folheá-lo percebia incorreções e temia o fracasso. Voltou para Lorena, seu posto na ocasião, temeroso, mas pouco tempo depois, recebeu carta do editor anunciando que o livro era um grande sucesso de vendas. Há divergências quanto ao dia exato do lançamento da obra. Uns afirmam que teria sido no dia 2 de dezembro de 1902, outros que teria sido entre os meses de agosto e outubro deste ano. É preciso lembrar que naquela época não havia, como hoje, um ritual de lançamento com dia e hora precisos. Pelo contrário, dadas as dificuldades de acabamento dos livros, o lançamento de uma edição muitas vezes ocorria aos poucos, pois a encadernação dos exemplares nem sempre era confeccionada de uma só vez. De qualquer modo, nas correspondências de Euclides fica claro que em 3 de dezembro de 1902, o livro já estava circulando, pois é desta data a carta que Euclides escreve a José Veríssimo afirmando: "Ao ler no ´Correio´ de hontem a notícia do seu juízo crítico sobre Os Sertões..." De qualquer forma, há que se registrar o empenho do próprio autor para a publicação de seu livro. Na época, as edições eram decididas no estreito círculo de livreiros da rua do Ouvidor, ou em Paris onde ficava a sede da Garnier. No mesmo ano da edição de Os Sertões, Graça Aranha publicou pela Garnier o livro Canaã. Esta edição foi decidida em Paris por Hyppolite Garnier, após ter sido submetida à sua apreciação por Joaquim Nabuco. Para a decisão foi fundamental a insistência de Joaquim Nabuco, diplomata com muitas relações. Graça Aranha era seu assistente. A Garnier procurava publicar escritores da velha geração e com venda garantida. Para editar um autor estreante eram necessárias recomendações de peso. Diferentemente de Graça Aranha, Euclides da Cunha não tinha padrinhos que o pudessem recomendar. Por outro lado, ele se colocava como um crítico desses métodos de influência política e apadrinhamento. "Neste país para tudo se fazer são necessários mil pedidos e mil empenhos, duas coisas que me repugnam - disse ele certa ocasião em carta a seu pai". Assim como o livro de estréia de Euclides da Cunha, Canaã foi também um sucesso de vendas, alcançando cinco edições entre 1902, ano do lançamento, e 1913, além de mais duas até 1922. O enredo tematizava a fuga de um alemão, desencantado com a civilização européia, para o interior do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro desfrutava de posição privilegiada por concentrar as casas editoras e as agências consagradoras do campo literário. Este era constituído por escritores nativos ou consagrados na capital federal, alguns poucos, mas influentes, livreiros e editores brasileiros, como Paula Brito, e estrangeiros, como os irmãos Laemmert e o Garnier, alguns poucos críticos literários, em geral escritores consagrados conjugando o trabalho de literatura com o de crítica. Variável importante, que tornava mais complexa a caracterização do campo literário brasileiro na virada do século XIX, era a íntima relação de vários escritores com Paris. Viagens para a capital francesa e o domínio da língua francesa apareciam para muitos como a aquisição de capital adicional. Muitos escritores estabeleciam contato direto com Paris e editores franceses. Muitos escritores oriundos de famílias tradicionais e de grande capital econômico na área rural freqüentavam a capital francesa com assiduidade. Alguns chegavam a morar em Paris durante parte do ano. O escritor Afonso Arinos, bastante engajado no tema do sertão, tendo sido designado por "caçador de matutos", conjugava o gosto pelo cosmopolitismo francês e as viagens pelo interior dos sertões mineiros, que serviam de base para seus livros. Os Sertões transformou-se rapidamente num best-selller, esgotando-se a primeira edição de mil e duzentos exemplares rapidamente. O preço de capa da primeira edição ficou em torno de dez mil réis. Ainda segundo Bragança, "feitas as contas, coube ao autor o saldo de 2:198$750, que lhe foi pago em 25/04/1903 (conforme documentação da editora; o original do recibo foi doado, como outros documentos relacionados com Euclides, à Academia Brasileira de Letras). Assim, o lucro líquido do Autor foi de 698$750 (...)". A segunda edição foi lançada em 9 de junho de 1903, depois de negociações com os editores, onde estes pagaram antecipadamente os direitos autorais por R 1:600$000, numa tiragem de 2.000 exemplares. Em 1905, surgiu a terceira edição, numa tiragem também de 2.000 exemplares. Assim, a tiragem total das edições Laemmert atingiu 5.200 exemplares. O número de edições e o total de 5.200 exemplares lançados pela Laemmert expressam, como assinalou Bragança, um dos maiores sucessos de vendas no restrito mercado livreiro do início do século no Brasil. As três edições foram vendidas em aproximadamente cinco anos. A Laemmert não chegou a fazer uma quarta edição, pois um incêndio destruiu suas instalações. O livro passou a ser editado a partir de 1911, com a quarta edição, pela Editora Francisco Alves. Bragança relata que para a terceira edição, Euclides da Cunha cedeu a "propriedade plena e inteira" de Os Sertões à Laemmert & Cia por 1:800$000, garantindo que de cada edição que se fizesse lhe seriam reservados cinquenta volumes. Com esta cessão definitiva o Autor e seus herdeiros ficaram excluídos das vantagens a que teriam direito regularmente com as edições futuras da obra. Embora este fato cause estranheza, uma vez que o livro continuava a ser um sucesso de vendas, Bragança assinala as dificuldades financeiras em que se encontrava Euclides no período como uma das possíveis razões de sua atitude. Em carta a seu pai, Euclides admite ter aceito a proposta da Laemmert por precisar pagar dívidas e fazer um seguro de vida. Além disso, considerava não perder nada "porque num primeiro livro só se aspira a um lucro de ordem moral e este, eu tive de sobra". Este "lucro de ordem moral" seria o de ter atingido o topo da hierarquia no campo literário em carreira meteórica. Desconhecido em 1902, ele era eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1903 e ingressava no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 3- A consagração no campo literário: Entre os mecanismos de consagração das obras literárias no período estava a crítica literária. Três críticos se destacavam procurando inovar e afirmar uma crítica mais consistente, calcada em critérios científicos: José Veríssimo, Araripe Júnior e Sílvio Romero. Esses três intelectuais tinham muitos pontos em comum e também muitas diferenças. Com relação à trajetória social, todos os três fizeram o mesmo movimento de migração do interior para a capital, o Rio de Janeiro, no litoral. Tiveram que lutar por espaço numa sociedade onde os círculos eram fechados e onde a vida literária ficava circunscrita a cafés e livrarias da rua do Ouvidor. Com maior ou menor intensidade dependendo do caso, os três estavam preocupados em afirmar novos critérios para o julgamento de obras literárias que se pautassem por argumentos científicos e não pela sociedade do elogio mútuo. A bandeira da ciência os irmanava e isso se expressaria na consagração de Os Sertões. O livro de Euclides da Cunha parecia ser uma obra à altura de suas pretensões modernizadoras. O primeiro ensaio crítico partiu de José Veríssimo no Correio da Manhã; pequeno, mas contundente. Entre outras observações, Veríssimo era definitivo ao considerar "o livro do Sr Euclides da Cunha, ao mesmo tempo o livro de um homem de ciência, um geógrafo, um geólogo, um etnógrafo; de um homem de pensamento, um filósofo, um sociólogo, um historiador; e de um homem de sentimento, um poeta, um romancista, um artista, que sabe ver e descrever, que vibra e sente tanto aos aspectos da natureza como ao contato do homem e estremece todo, tocado até ao fundo da alma, comovido até às lágrimas, em face da dor humana, venha ela das condições fatais do mundo físico, as secas que assolam os sertões do Norte brasileiro, venha da estupidez ou da maldade dos homens, como a Campanha de Canudos". Pouco depois, em março de 1903, o Jornal do Commércio estampava a crítica de Araripe Júnior que, além de mais longa e elaborada, era também mais efusiva e entusiasmada. Segundo Araripe, Euclides surgia "conquistando o primeiro lugar entre os prosadores da nova geração." Como José Veríssimo, Araripe Júnior sublinhava que o livro era o resultado da soma da arte com a ciência, do épico com o trágico e da emoção com a razão. O escritor produzira uma obra científica, uma "obra histórica", mantendo "a continuidade da emoção, sempre crescente, sempre variada, que sopra rija, de princípio a fim, no transcurso de 634 páginas..." Ambas as críticas são o primeiro passo para a monumentalização da obra. Araripe pela primeira vez faz comparações com obras monumentais da literatura como o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, e Mistérios do Povo, de Eugênio Sue. Particularmente, a crítica de Araripe busca tecer alguns argumentos de autoridade de caráter científico para a consagração de Os Sertões. Para Araripe, o texto de Euclides da Cunha continha valor especial por se tratar de pesquisa feita no próprio local, o que não era habitual na ocasião. Euclides da Cunha era um pesquisador "que viu", "que experimentou as agruras da guerra", refletindo sobre uma realidade que observou. O fato de haver presenciado os fatos como repórter e de ter utilizado moderno instrumental científico era reiterado diversas vezes como qualidade importante. "Ele viu, segurou, surpreendeu em flagrante, em todas as suas variedades, descrevendo-os agora na mais bela síntese que se tem feito no Brasil dos habitantes dos sertões, esses membros de uma sociedade, como diz o próprio autor, de todo estranha ao Brasil organizado em nação." Ou ainda: "O sr. Euclides da Cunha observou de perto, estudou como filósofo, viu os efeitos..." Tanto José Veríssimo quanto Araripe Júnior sublinhavam o que consideravam decisivo para a consagração do livro: Os Sertões era um livro de ciência e de arte. Estas duas primeiras críticas desempenharam o importante papel de guindar o livro de estréia de Euclides da Cunha às mais altas posições. O próprio Euclides da Cunha reconheceu este fato. Ao ler a primeira parte do ensaio de Araripe, Euclides comentou com amigos ter saído da redação do jornal onde trabalhava "com o enorme estonteamento de um recruta transmudado repentinamente num triunfador". Segundo ele, o ensaio de Araripe tinha tido tamanha repercussão que "no dia seguinte" ele, "que até então era um engenheiro letrado, tinha se transformado em escritor". A importância destes ensaios para a consagração de Os Sertões foi minuciosamente descrita no artigo "O livro que abalou o Brasil: a consagração de Os Sertões na virada do século" publicado na Revista História, Ciências, Saúde, vol. V, de julho de 1998. Outros passos foram dados até que a afirmação de Os Sertões como obra prima da literatura e como "monumento nacional" fosse efetivada. Gostaria de discorrer aqui sobre a contribuição de Sílvio Romero neste processo. Enquanto Veríssimo e Araripe foram decisivos para a consagração do livro no momento de seu lançamento, a participação de Sílvio Romero se deu um pouco mais tarde, em 1906, quando Euclides já eleito para a Academia Brasileira de Letras foi recebido pelos acadêmicos. A sessão solene ocorreu no dia 18 de dezembro de 1906 e Romero foi o responsável pelo discurso de recepção. Sílvio Romero, um dos mais respeitados críticos do período, indagava em seu discurso qual "a grande lição" que Os Sertões teria dado ao país. No seu entender, "a grande lição" consistiu em "mostrar que os homens inteligentes deveriam voltar-se para o Brasil social, onde pulsa a mor intensidade dos problemas nacionais, que exigem solução, sob pena, senão de morte, de retardamento indefinido no aspirar ao progresso, no avançar para o futuro". Voltar-se para o "Brasil social" significava "reformar pela base, pelo alicerce" em oposição à atitude de "reformar pelas cimalhas", conceito que Romero retira do próprio Euclides. O "Brasil social" era identificado com "as populações sertanejas", a "maior parte da nação", "aquela que tem mantido a nossa independência; porque é aquela que sempre trabalhou, sempre se bateu e ainda bate...". O "Brasil social" teria se formado historicamente a partir do modelo de colonização implantado no país. Os colonizadores, acostumados com o comércio, o pastoreio e a produção agrícola, aqui procuraram seguir o mesmo modelo de economia agropastoril. Condições adversas de clima, de solo, de comunicações transformaram essa economia numa "cultura rude e penosa". Recorreram para o trabalho pesado à "força do cativeiro de índios e negros". Formaram-se, assim, três grupos: os escravos, os "colonos reinóis de gradações várias e categorias várias, que se encarregavam do suavíssimo esforço de mandar"; e um grupo intermediário que concentrava a maior parte da população, "o grosso proletariado rural - não escravo". Esse grupo "não possuía um palmo de terra, porque esta foi desde o começo ficando açambarcada em enormes latifúndios pelos concessionários de sesmarias intérminas" e teve "fatalmente de acostar-se, como agregado, à patronagem dos grandes proprietários". A esse proletariado rural teriam vindo somar-se "os ex-escravos" recentemente libertados em 1888. Lembremo-nos de que na ocasião em que Romero proferia seu discurso apenas 189 anos haviam transcorrido desde o fim da escravidão. Sentiam-se no país ainda fortemente as conseqüências do fim do regime de mão-de-obra escrava, sem que tivesse havido um projeto de realocação da força de trabalho liberta. Como decorrência dessa "anomalia inicial", originaram-se "várias antinomias" que faziam o país "manquejar". A primeira delas seria "a disparidade entre uma pequena elite de possuidores e proprietários e o avultadíssimo número de analfabetos ou incultos que constituem a nação por toda a parte". Romero assinalava enorme desvalorização com relação às "gentes do centro" difundida pelos meios de comunicação. "Intelectuais de toda a casta" falariam mal das "gentes do centro, sertanejos ou não", "produzindo soma incalculável de males, desviando os governos, e todos os que disso podiam curar, de cumprir o seu dever para com a maioria da população nacional". O crítico aproveitava a ocasião para fazer contundente discurso de valorização das populações sertanejas, em que se percebe o quanto o livro de Euclides da Cunha havia contribuído para fortalecer o pólo alternativo aos valores calcados na civilização européia e no culto às cidades cosmopolitas, expressões de modernização e progresso. Os intelectuais deviam voltar seus olhos para o centro do país, onde estava a "autêntica" cultura rústica dos sertanejos e onde a fauna e a flora tropicais se manifestavam em sua selvagem exuberância. O ponto-chave do discurso relacionava-se, portanto, à oposição formulada por Euclides entre o litoral e o sertão. Romero ampliava o sentido dessa oposição. Para ele, o sertão era o "Brasil social", enquanto o litoral era o "Brasil da politicagem". Ao narrar a história do sertão que desaguou na guerra de Canudos, Euclides ancorava-se segundo ele no que o país tinha de mais autêntico, sua população sertaneja. A narrativa épica do Brasil autêntico seria pois garantia para a autenticidade do livro e um dos elementos importantes para sua monumentalização. Euclides, engenheiro, militar, herói da República, que a esse movimento se ligou logo nos primeiros momentos, ainda cadete da Escola Militar, homem de ciência, sério e austero, avesso a pedidos e empenhos, distante dos padrinhos e da rua do Ouvidor, reunia todas as condições para se transformar em porta-voz dos interesses e anseios de intelectuais que, como Romero, procuravam fazer com que fosse conferido outro estatuto ao Brasil da área rural. Romero contrastava duas visões que implicavam representações diversas do nacional. Uma que enfatizava os ideais de progresso e civilização, baseada num modelo universalista e cosmopolita das grandes reformas urbanas, das obras que difundiam novas regras de higiene e bom-gosto. Outra, que procurava construir as nações com base na busca de suas singularidades, fossem elas da ordem da natureza ou da ordem das antigas tradições populares, consideradas genuínas fontes da nacionalidade. A diferença era de ênfase: unificar a partir do molde europeu ou construir alternativa própria, sui-generis, tropical. No primeiro pólo, estava a maior parte da elite política do período, seduzida pelas maravilhas da técnica e da civilização que buscava copiar da Europa. No segundo, intelectuais como Sílvio Romero, Euclides da Cunha e Araripe Júnior. Euclides teria fornecido algumas chaves para a compreensão do "problema brasileiro", segundo Romero, que propunha uma espécie de geografia econômica da nação. Efetivamente, crescia a idéia de que no centro do território estava o cerne da nacionalidade, idéia muito difundida posteriormente e que legitimou diversos projetos de governo, inclusive a mudança da capital para Brasília. Em última análise, a entronização de Euclides da Cunha na Academia Brasileira de Letras rep |
| Regina Abreu | << Próximo || Anterior >>
Apoio |
||||